 Acha que a Europa não nos interessa? Acha que a Europa não nos interessa?
A nossa entrada na Europa foi um acontecimento capital na história portuguesa moderna. Agora estamos na Europa, politicamente e comercialmente, a tempo inteiro. O nosso espaço é objectivamente o da Europa. As nossas empresas têm de ter uma dimensão europeia, se não afogamo-nos aqui e enfrentamos uma regressão que não poderemos suportar. Mas nem por isso conhecemos mais a Europa. Não é só Portugal. Os países continuam culturalmente muito em casa, separados não só por uma história de séculos, mas pelas suas diferentes línguas. E nada separa mais do que as línguas. Quantas mais línguas falamos, mais pátrias temos. E agora temos todos uma espécie de nova pátria, que é o inglês. Ontem assisti a uma coisa fabulosa. O filósofo francês Jacques Rancière veio aqui ao Porto falar da perda do olhar crítico no actual discurso sobre o mundo, e fez a conferência em inglês. Um europeu francês, língua de cultura dominante durante três séculos, veio cá falar em inglês. No final, o Guilherme de Oliveira Martins, que era o moderador, fez-lhe uma pergunta em francês e ele, francês, respondeu em inglês. Uma coisa surrealista, mas que é típica deste mundo em que vivemos. Um filósofo conhecido e importante, ao mesmo tempo que faz um discurso muito crítico de alguns dos efeitos da globalização, assume, quase como um reflexo, o inglês como língua da globalização.
 As novas gerações têm agora essa leitura do mundo em inglês, para efeitos práticos. A alguns o inglês também lhes permitirá aceder a uma grande literatura. É uma coisa excelente. Como o foi o francês na minha geração. As novas gerações têm agora essa leitura do mundo em inglês, para efeitos práticos. A alguns o inglês também lhes permitirá aceder a uma grande literatura. É uma coisa excelente. Como o foi o francês na minha geração.
Faz um balanço negativo dos efeitos da televisão, designadamente em Portugal?
O paradoxo é que este estar em toda a parte e não estar em nenhuma, é também uma forma de solidão. E, talvez como forma de nos defendermos dessa dispersão, dessa ubiquidade, em vez de sairmos e voltarmos a casa, como fez a geração de 70 – quero estar em Paris e depois quero estar no Douro, em Tormes –, agora queremos mesmo é estar numa Tormes permanente, com a televisão a fornecer-nos as vistas. Isto tem coisas positivas, mas claro que a televisão podia fazer mais: em vez de nos dar um fluxo contínuo de telenovelas medíocres (com raras excepções), podia aproveitar para  reciclar as grandes páginas da nossa própria ficção, mais do que faz. reciclar as grandes páginas da nossa própria ficção, mais do que faz.
Eu não a ponho em causa. Vejo muita televisão. À noite, quando não tenho mais que fazer, vejo televisão. Sobretudo noticiários, mas também o canal ARTE, que tem coisas que os outros não têm. A televisão pode oferecer momentos muito interessantes. Pode ter-se ali bem, com agrado, uma espécie de cultura de bolso. Mas uniformiza os conhecimentos e os comportamentos de um país – os bons e os maus – a todos os níveis. Claro que a informação que transmite é importante, mesmo se muito centrada no “fait-divers” nacional. E lá fora até há várias muito piores do que a portuguesa, que só vivem de sexo e violência, como a espanhola. A coisa aqui é mais moderada. Em França, a televisão é muito redutora. A imprensa é  muito mais variada, e até a rádio. A televisão tem de cobrir Paris, para a cidade-luzpoder iluminar a nação, mas não pode passar, também, sem todo o “fait-divers” de província, senão fica sem audiência. muito mais variada, e até a rádio. A televisão tem de cobrir Paris, para a cidade-luzpoder iluminar a nação, mas não pode passar, também, sem todo o “fait-divers” de província, senão fica sem audiência.
A verdade, lá ou aqui, é que se a televisão tivesse outro tipo de exigência, não tinha público. Em Portugal, ainda assim, há essa coisa boa de passarem os filmes com legendas. Lá fora, só por excepção é que se consegue ver um Bergman no original.
E jornais? O que é que lê diariamente?
Sou um caso quase patológico. Passo muito tempo a ler jornais. Como não faço nada, leio jornais. Tenho de acabar com isto, que me arruína. Compro sempre uns 6 jornais.  Desde que estive em Itália, ganhei o gosto de ler o “La Repubblica”. É um jornal que eu leio rapidamente, com aquela retórica toda, aquela “commedia dell’arte” da política italiana – são sempre os mesmos –, mas tem páginas de análise política, e de cultura, muito bem feitas. Também me habituei a ler o “El Pais”. Leio o “Le Monde”, que são dois “Mondes”, mas já não sou tão fã como fui em tempos. Antes lia-o como a uma espécie de Bíbilia. Também leio o “Libération”, o que é paradoxal, porque é um jornal com muita coisa que eu destesto. Mas tem um olhar muito original e diferente, onde o cultural abarca tudo: o futebol pode ter a mesma atenção que o grande “fait-divers” político. E tem também aquilo que lhe ficou desse revolucionarismo do Maio de 68. Depois, o “Figaro”, um jornal que durante anos não li por ser tão conotado com a direita – e numa certa fase era mesmo de direita. Isto é também um sinal de que, politicamente, estamos no tal famoso pós-modernismo: os jornais que têm opções políticas e culturais muito fixadas perdem leitores e morrem. O “Figaro”, em matéria Desde que estive em Itália, ganhei o gosto de ler o “La Repubblica”. É um jornal que eu leio rapidamente, com aquela retórica toda, aquela “commedia dell’arte” da política italiana – são sempre os mesmos –, mas tem páginas de análise política, e de cultura, muito bem feitas. Também me habituei a ler o “El Pais”. Leio o “Le Monde”, que são dois “Mondes”, mas já não sou tão fã como fui em tempos. Antes lia-o como a uma espécie de Bíbilia. Também leio o “Libération”, o que é paradoxal, porque é um jornal com muita coisa que eu destesto. Mas tem um olhar muito original e diferente, onde o cultural abarca tudo: o futebol pode ter a mesma atenção que o grande “fait-divers” político. E tem também aquilo que lhe ficou desse revolucionarismo do Maio de 68. Depois, o “Figaro”, um jornal que durante anos não li por ser tão conotado com a direita – e numa certa fase era mesmo de direita. Isto é também um sinal de que, politicamente, estamos no tal famoso pós-modernismo: os jornais que têm opções políticas e culturais muito fixadas perdem leitores e morrem. O “Figaro”, em matéria 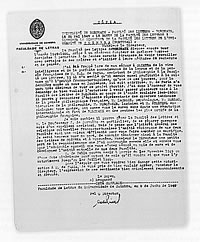 de informação, mas principalmente no comentário e na crónica, é hoje talvez mais interessante do que o “Le Monde”, porque tem colaboração de gente muito variada e de todos os sectores. E deixei para o fim a novidade, que confirma as suas suspeitas sobre o meu catolicismo: sempre que posso, leio o “La Croix”, que é um jornal pequenino, mas muito bem feito. É o mais “limpo” dos jornais franceses. E leria os jornais portugueses se não tivesse deixado de os receber. Cortaram-me a colecta, como dizia a minha tia. Os únicos jornais portugueses que leio são os que os meus amigos da província me mandam: o “Jornal do Fundão” e dois jornais da Guarda. Antigamente, quando lá estava o António José Teixeira, recebia o “Jornal de Notícias”, que é um bom jornal. Depois deixei de o receber. O PÚBLICO, já há muito tempo que não mo mandam. De modo que estou um pouco às cegas quanto ao país, não reajo muito às coisas que aqui se passam porque não tenho informação. Após o 25 de Abril, quando eu também era mais novo, o que se passava em Portugal era vital para mim e para muita gente, e nessa altura escrevia muito e andava um pouco nas bocas do mundo. Mas depois acabou-se. de informação, mas principalmente no comentário e na crónica, é hoje talvez mais interessante do que o “Le Monde”, porque tem colaboração de gente muito variada e de todos os sectores. E deixei para o fim a novidade, que confirma as suas suspeitas sobre o meu catolicismo: sempre que posso, leio o “La Croix”, que é um jornal pequenino, mas muito bem feito. É o mais “limpo” dos jornais franceses. E leria os jornais portugueses se não tivesse deixado de os receber. Cortaram-me a colecta, como dizia a minha tia. Os únicos jornais portugueses que leio são os que os meus amigos da província me mandam: o “Jornal do Fundão” e dois jornais da Guarda. Antigamente, quando lá estava o António José Teixeira, recebia o “Jornal de Notícias”, que é um bom jornal. Depois deixei de o receber. O PÚBLICO, já há muito tempo que não mo mandam. De modo que estou um pouco às cegas quanto ao país, não reajo muito às coisas que aqui se passam porque não tenho informação. Após o 25 de Abril, quando eu também era mais novo, o que se passava em Portugal era vital para mim e para muita gente, e nessa altura escrevia muito e andava um pouco nas bocas do mundo. Mas depois acabou-se. |

