 A propósito de “Eros”, as poucas reacções que vi ao seu último livro, “As Saias de Elvira”, levam-me a pensar que ele foi recebido com uma ligeira perplexidade... A propósito de “Eros”, as poucas reacções que vi ao seu último livro, “As Saias de Elvira”, levam-me a pensar que ele foi recebido com uma ligeira perplexidade...
Sim, sim, desde o título. Devem ter pensado: mas isto é um erotismo serôdio, este tipo não está bom da cabeça. A verdade é que eu dei um curso na América, em Providence – esse é que tenho pena de não estar publicado, mas, como foi oral, tenho de o escrever, e não tenho tempo nem paciência... – sobre “Eros e Cristo”, que vai desde Almeida Garrett até Jorge de Sena. Ou seja, uma tentativa de ler esses nossos dois séculos, do Romantismo ao Jorge de Sena, não segundo a lógica tradicional das escolas que se sucedem empiricamente umas às outras, mas descobrindo um núcleo central em torno do qual as coisas funcionassem. Claro que é mais fácil fazer isso na ordem da poesia do que na da ficção, mas ambas obedecem aos mesmos cânones. No ano passado, quando vi que estava a chegar ao fim do ano sem publicar nenhum livro, lembrei-me, à última da hora, de organizar este livrinho, mas ele não corresponde exactamente ao que eu disse nos Estados Unidos.
As pessoas admiraram-se com “As Saias de Elvira”, mas eu até fui o autor – e não me gabo muito disso – do primeiro texto escrito em Portugal sobre o marquês de Sade. Foi a pedido, como sempre, e neste caso do José-Augusto França. Eu já estava lá fora. Quase não sabia que o Sade existia. Não fui ler os livros todos, mas aquilo lê-se um e basta, que é muito provocador e um pouco chato. Publiquei o texto na “Unicórnio”. Como não se podia ter revistas, o José-Augusto França inventou aqueles cadernos: depois veio o “Bicórnio”, etc., até ao “Pentacórnio”. Esse texto sobre o Sade foi uma dessas audácias que nos ultrapassam.
 As “Saias de Elvira” reúne textos sobre vários escritores, mas é clara a sua predilecção pelo Eça. As “Saias de Elvira” reúne textos sobre vários escritores, mas é clara a sua predilecção pelo Eça.
O Eça de Queiroz foi o primeiro autor moderno que eu li. Tinha chegado a Coimbra, à Faculdade de Letras, e um dia, como eu levava um livro debaixo do braço, um colega perguntou-me o que eu estava a ler. “É um romance: ‘Nossa Senhora de Paris’, de Victor Hugo”. Ele disse-me: “O Hugo não é um romancista”. “Ai não? E quem é que é?”. Respondeu-me que romancista era o Eça de Queiroz. Fui directamente dali à biblioteca, procurar esse tal Eça de Queiroz. Comecei pel’“O Primo Basílio” e fiquei logo elucidado para o resto dos meus dias.
O Eça é uma referência fundamental para toda a minha geração. Ele morre em 1900 e, embora já fosse célebre, é então que a Pátria realmente o descobre. E, a partir daí, em 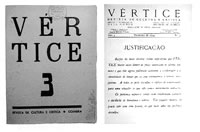 Portugal, é tudo mais ou menos queirosiano. A “Presença” marca depois uma certa reacção. É visível que a grande referência do Régio é o Camilo. E o Torga idem aspas: gostava do Eça, e até andou a comprar uma cadeira que tinha sido dele, mas aquele Eça escarninho, muito Fradique Mendes, não ia lá muito bem com o seu telurismo. Portugal, é tudo mais ou menos queirosiano. A “Presença” marca depois uma certa reacção. É visível que a grande referência do Régio é o Camilo. E o Torga idem aspas: gostava do Eça, e até andou a comprar uma cadeira que tinha sido dele, mas aquele Eça escarninho, muito Fradique Mendes, não ia lá muito bem com o seu telurismo.
A minha geração tenta recuperar essa outra geração para quem a questão social tinha sido importante. Naqueles desfiles da Queima da Fitas, andávamos por lá, já bem bebidos, com uns cartazes a dizer que éramos a nova geração de 70. Até o neo-realismo se considerou um pouco uma outra forma de queirosianismo, mas sem a ironia e o humor.
 Em “As Saias de Elvira” também realça a modernidade do Eça, por contraste com a dos seus companheiros geracionais. Em “As Saias de Elvira” também realça a modernidade do Eça, por contraste com a dos seus companheiros geracionais.
A diferença entre o Eça e os outros é que era o mais viajado. Chegou a França quando já conhecia bem a América e tinha uma noção clara do que aquilo era. Parece que teve uns amores em Havana. A sua visão era muito cosmopolita e universalizante. Todos os outros são mais provincianos, na ordem dos sentimentos e na maneira de ser. O Eça também teve duas fases, porque depois quis regressar ao ninho paterno. Mas viveu, de facto, a crise universal da civilização, e interessou-se por tudo. Era um homem mesmo muito inteligente, e com uma graça que nenhum dos seus companheiros tinha. O Oliveira Martins, ao lado dele, é um provincial. Como eu.
 Esse sarcasmo do Eça, se não excluía o afecto que tinha por Portugal, também apresentava o país como uma coisa sem remédio, sem saída. Um olhar que hoje se pode encontrar, por exemplo, no Vasco Pulido Valente... Esse sarcasmo do Eça, se não excluía o afecto que tinha por Portugal, também apresentava o país como uma coisa sem remédio, sem saída. Um olhar que hoje se pode encontrar, por exemplo, no Vasco Pulido Valente...
Sim, sim, vem dali direitinho.
... eu ia perguntar se a sua obra, desde “O Labirinto da Saudade”, não passa também um pouco essa ideia de que o país sofre de uma espécie de bloqueio profundo, e não há volta a dar-lhe?
A história de Portugal é, de facto, singular. Os portugueses foram para todo o lado, mas nunca saíram, levaram a casinha com eles. Fizeram a mesma coisa na Europa. Salvo uma elite, que se preocupava com o que se passava lá fora – e imitava ou recusava –, a todos os outros foi a Europa que lhes chegou: veio por aí abaixo com os caminhos-de-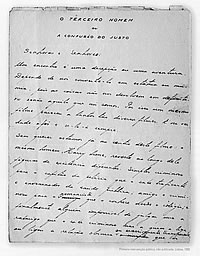 ferro. Veja-se que o TGV francês já vai em 582 km/hora e o nosso ainda não saiu na estação. E até se percebe que o Governo hesite nestas opções, porque se calhar não há sequer gente que chegue para ir a Madrid. ferro. Veja-se que o TGV francês já vai em 582 km/hora e o nosso ainda não saiu na estação. E até se percebe que o Governo hesite nestas opções, porque se calhar não há sequer gente que chegue para ir a Madrid.
A geração de 70 foi a primeira a dar-se conta de que, com o Sud-Express, a Europa lhe tinha chegado. Primeiro veio o Napoleão, depois algumas ideias e livros, e finalmente a Europa entrou materialmente por aqui dentro, como aconteceu em Espanha.
Mas a nossa tendência é a de vivermos guetizados. Agora estamos todos, seja aqui ou na Patagónia, a ver o mesmo ecrã. É como o cosmonauta que viu a Terra de fora pela primeira vez. Só que agora a vemos na televisão ou na internet. No entanto, a verdade mais profunda é que a televisão serviu, sobretudo, para aproximar internamente o país. Vila Real e Bragança estão em Lisboa e vice-versa. O país está mais pequeno, mais compacto. Mas, ao mesmo tempo, há uma auto-guetização. Veja um acontecimento como o das qualificações académicas do primeiro-ministro, sem dimensão, sem interesse, nem dentro nem fora de fronteiras, mas que pode ocupar o país um mês  inteiro – e ainda a procissão vai na praça. Isto numa altura em que se estão a passar no mundo coisas importantes, que interessam aos destinos da humanidade. inteiro – e ainda a procissão vai na praça. Isto numa altura em que se estão a passar no mundo coisas importantes, que interessam aos destinos da humanidade.
A televisão tem esta capacidade de estar em toda a parte, mas é um espelho que também nos pode reduzir à dimensão de um quarto de dormir. Estamos todos na mesma casa-de-banho. Continuamos numa ilha, agora com vistas para o mundo inteiro, mas que são só vistas. O que nos interessa mesmo é o que se passa cá em casa. Mais uma vez, o Eça ilustrou isto: “O que nos interessa é o pé da Luisinha”.
Os jornais ocupam-se do que acontece lá fora e caem-nos aqui as notícias a dizer o que se passa no mundo. Mas a única coisa que verdadeiramente nos interessa, na ordem internacional, é Timor, e interessa-nos porque que foi nosso, porque se fala lá a nossa língua. Para tudo o resto, estamo-nos nas tintas, são apenas “fait-divers” para divertimento do nosso tédio. |

