Andou no Colégio Militar, em Lisboa. Guarda boas recordações?
Quando se está num colégio interno dos 11 aos 17 anos...
 Há sempre algumas boas recordações... Há sempre algumas boas recordações...
Sim, mas no início é uma grande mudança, é a verdadeira queda na vida, o confronto com os outros. E, antes de mais, o corte com a família, quase radical, porque ficava praticamente o ano inteiro sem a ver, só vinha às vezes a casa no Natal. Fiz lá amizades, não muitas, mas que durarão até ao fim da minha vida, ou da dos meus amigos.
Era um colégio de elite. Tinha-se orgulho em andar ali. Uma parte dos filhos da elite militar, mas também social, frequentava aquele colégio. Também havia coisas muitos negativas, como as há em todos os colégios internos. O tipo de disciplina não seria o que eu desejaria, mas tinha uma coisa boa: uma espécie de democraticidade efectiva entre os alunos. Como todos tínhamos um número, os filhos da alta burguesia eram reduzidos à mesma escala. Uma opção que ainda hoje se poderia aceitar, ou pelo menos discutir.
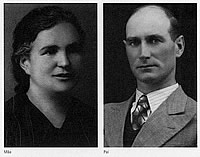 Já tinha, nessa época, interesses literários? Já tinha, nessa época, interesses literários?
A formação destinava-se, em princípio, à entrada na Academia Militar, mas o programa acabava por ser o mesmo dos liceus. Eu já nessa altura comecei a interessar-me um pouco por aquilo a que se pode chamar “os livros”. Tinha boas notas nas redacções e nessas coisas. A marca mais forte que me terá ficado dessa época foi o meu gosto pela História. A maioria dos meus camaradas não se interessava por ela, mas eu tive desde muito cedo essa paixão pela História. Penso que não foi apenas adquirida graças a um desses professores que nos marcam para sempre, Sanches da Gama, que soube mais tarde que era avô de Luísa Costa Gomes, mas também nas férias em casa. O meu pai tinha deixado em S. Pedro uma mala com livros: enciclopédias, a “História de Portugal” do Fortunato de Almeida, eu sei lá. Como não tinha mais nada para ler, esses livros de História foram a minha ficção. A maior das minhas paixões é a História. A História como a ficção suprema da humanidade.
 Ainda é hoje a sua maior paixão? Ainda é hoje a sua maior paixão?
Sim, ainda hoje.
Em 1940 vai para Coimbra, para a Universidade.
É o tempo em que andamos à procura da nossa própria definição e somos muito marcados pelos encontros que fazemos. Coimbra já me existia antes de ir para lá, porque havia na minha aldeia dois estudantes universitários que falavam muito daquele folclore, daquela mitologia coimbrã. Já sabia um pouco o que aquilo era, já sabia que existia lá o famoso CADC, o Centro Académico de Democracia Cristã, porque o abade da minha aldeia recomendara à minha mãe que eu não deixasse de o frequentar. Penso que Salazar foi um dos  fundadores. Era então o alfobre dos futuros quadros do regime. É curioso comparar a sede da Associação Académica, um grande casarão, negro e cheio de fumo, que os estudantes haviam tomado em tempos – uma acção que ficou conhecida como “tomada da Bastilha” –, e a do CADC, uma casa moderna, um pouco no estilo “art déco”, onde havia jornais e livros e se podia jogar pingue-pongue. Era um ambiente simpático. Frequentei o CADC durante um ano e fiz lá amigos, como, por exemplo, o Henrique Barrilaro Ruas. Depois conheci no primeiro ano de Letras essa geração que se chamou neo-realista: o Rui Feijó, o Carlos de Oliveira, o Egídio Namorado e o Raul Gomes, entre outros. fundadores. Era então o alfobre dos futuros quadros do regime. É curioso comparar a sede da Associação Académica, um grande casarão, negro e cheio de fumo, que os estudantes haviam tomado em tempos – uma acção que ficou conhecida como “tomada da Bastilha” –, e a do CADC, uma casa moderna, um pouco no estilo “art déco”, onde havia jornais e livros e se podia jogar pingue-pongue. Era um ambiente simpático. Frequentei o CADC durante um ano e fiz lá amigos, como, por exemplo, o Henrique Barrilaro Ruas. Depois conheci no primeiro ano de Letras essa geração que se chamou neo-realista: o Rui Feijó, o Carlos de Oliveira, o Egídio Namorado e o Raul Gomes, entre outros. |

