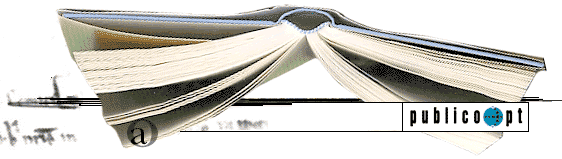|
Umberto Eco
O que foi a minha vida sob o signo
do sucesso
Por Laura Lilli
O primeiro livro da colecção
Mil Folhas, que será distribuído gratuitamente
na próxima quarta-feira com o jornal, é "O
Nome da Rosa", do escritor italiano Umberto Eco, que
foi um dos maiores best-sellers dos últimos anos.
Por altura dos seus 70 anos, no início deste ano
- a 5 de Janeiro -, Eco, que não gosta de entrevistas,
aceitou fazer um balanço da sua carreira.
De facto, apesar de a fama mundial e de o facto de ter sido
o primeiro a teorizar, em Itália, a importância
da comunicação de massas, o escritor desconfia
dos jornais, ou melhor, desconfia dos jornalistas - ele
que escreve sobre jornais. Mas conseguimos que se abrisse
uma porta. E colocámos-lhe algumas questões
destinadas a desenhar o seu retrato ao entrar naquela que
há muito tempo era considerada a idade da sabedoria.
 Umberto
Eco, até ao final da década de 60 foi um mestre
da irreverência e da desmitificação. Alguma
vez pensou vir a tornar-se não apenas uma celebridade
mundial adequadamente premiada e venerada, mas também,
para muita gente em Itália, uma espécie de pai
da pátria? Umberto
Eco, até ao final da década de 60 foi um mestre
da irreverência e da desmitificação. Alguma
vez pensou vir a tornar-se não apenas uma celebridade
mundial adequadamente premiada e venerada, mas também,
para muita gente em Itália, uma espécie de pai
da pátria?
Pai da pátria? A pátria,
quando procurou um pai, escolheu Berlusconi. Eu sou um falhado.
Em criança queria ser cobrador de bilhetes de eléctrico,
porque tinham bolsas lindíssimas com dez divisões
cheias de maços de bilhetes de várias cores.
Não era como agora, que se entra no metro introduzindo
o bilhete numa maquineta automática. Um pouco mais
tarde quis ser general (no tempo do fascismo o modelo era
o guerreiro) e em vez disso, cumprido o serviço militar,
passei à reserva com a patente de cabo da infantaria
distrital. Como se isto não bastasse, nos anos 60 participei
na fundação do Comité para o Desarmamento
Nuclear. Mas a minha verdadeira ambição era
ter sido pianista num piano bar. Até às duas
ou três da manhã, de cigarro ao canto dos lábios,
com um whisky, a tocar Smoke gets in your eyes e Time passing
by. Correu mal. Bem, paciência.
Que desastre.
E em vez disso, na sua infância, não havia sintomas
de que viria a tornar-se escritor?
Sim, na realidade havia. Desde
pequeno que também queria escrever romances. Comecei
do seguinte modo: pegava num caderno e escrevia o frontispício.
O título era tipo salgariano, género "Os
Corredores do Labrador" ou "A Intriga Fantasma".
Depois escrevia o nome do editor em baixo, Tipografia Matenna
(audaz síntese de "matita" [lápis]
e "penna" [caneta]). Depois, de dez em dez páginas
colocava uma gravura do género das de Della Valle ou
Amato nos livros de Salgari. A ilustração escolhida
determinava a história que deveria então escrever.
Escrevia algumas páginas do primeiro capítulo.
Escrevia ao correr da pena, não me permitia qualquer
correcção. É claro que depois de algumas
páginas abandonava o empreendimento. Assim fui, naquele
tempo, o autor de alguns romances inacabados.
E a ensaística?
Também a esse respeito tenho
algumas provas da adolescência (a propósito,
conto-as numa colectânea de ensaios que está
para sair, com o título "Sulla letteratura"
[Sobre a literatura]. Quanto ao resto, como se encontra registado
e documentado, só mais tarde vim a ocupar-me apenas
da ensaística, quase aos 50 anos. Por favor, não
me pergunte como é que escrevi o meu primeiro romance,
porque já estou farto da pergunta e de cada vez dei
uma resposta diferente (obviamente todas falsas). Digamos
que o fiz porque tive vontade, e se isto não lhe parece
uma boa razão, então não percebe nada
de literatura. Enfim, escrevi-o e chega. E assim vinguei a
minha infância de romancista incompleto.
Evitarei então
repetir uma pergunta que já lhe fiz, e que poderia
parecer insultuosa. Mas se calhar a resposta que deu em 1980
quando publicou "O Nome da Rosa" - 'aconteceu-me
fazê-lo, como acontece fazermos chichi' - não
era completamente falsa. Em vez disso perguntar-lhe-ei qual
é, dos inúmeros livros que publicou, aquele
que mais ama?
Não posso responder-lhe,
senão os outros ficam ofendidos. Mas posso afirmar
uma coisa. Depois do êxito de "O Nome da Rosa"
editores de vários países foram à procura
dos meus livros anteriores que não tinham sido traduzidos.
O meu primeiro livro, o "Problema Estético em
Tomás de Aquino", tinha sido a minha tese de doutoramento
e tinham sido impressos, creio, 300 exemplares numa editora
universitária. De repente foi traduzido para as línguas
principais. Na América saiu na Harvard University Press,
em França, na Presses Universitaires, em suma nos lugares
mais cobiçados. Bom, fiquei mais contente com esta
tradução do que com todas as cópias de
"O Nome da Rosa" ou dos romances subsequentes.
Assim sendo,
para evitar que as suas obras se ofendam, nem sequer posso
perguntar-lhe qual delas ama menos. Mas gostaria de saber
o que pensa hoje de alguns dos seus ensaios do início
da década de 60 como a "A Obra Aberta" ou
"Apocalípticos e Integrados"?
Um livro como "Apocalípticos
e Integrados" suscitou muitas polémicas, foi traduzido
em todo o lado, continua a vender, e na América Latina,
quiçá porque é a minha obra mais conhecida.
Estudam-na em toda a parte. Mas era uma misturada, uma recolha
de ensaios exploratórios, aborrece-me muito que continue
a ser publicado.
Ainda dentro
da temática do revivalismo: fale-nos um pouco da neovanguarda
do Grupo 63, da qual fez parte.
Para começar, o termo neovanguarda,
se bem que aquele 'neo' devesse ter posto as pessoas de sobreaviso,
provocou uma confusão de ideias. O Grupo 63 não
era composto por boémios que protestavam contra a sociedade
literária de que se encontravam excluídos. Alguns
dos elementos do grupo estavam já bem inseridos nas
editoras, nos jornais, na RAI, os artistas expunham nas galerias
mais conceituadas. Não foi uma polémica contra
o establishment, foi uma revolta de dentro do establishment,
um fenómeno por certo novo no que respeita às
vanguardas históricas.
Falava-se da
vanguarda em carruagem-cama…
Certamente, se bem que seja verdade que os incendiários
históricos eram incendiários que posteriormente
morriam bombeiros. O Grupo 63 foi um movimento que nasceu
num quartel de bombeiros donde alguns terem acabado como incendiários.
Este aspecto (talvez típico da nova cultura tecnológica,
do neocapitalismo desses anos, da profunda transformação
da indústria cultural) talvez ainda não tenha
sido bem estudado. Mais: gostava de notar que o Grupo 63 foi
inventado pelos inimigos do Grupo 63.
Tinha-o iniciado
com Bassani, com Cassola e também com "O Leopardo"…
Sim, mas muitas vezes era apenas
uma questão de carácter. Creio que muitos do
grupo veneravam Montale, mas quem os unia, buliçoso
e alegre, era Ungaretti. Recordo-me que, anos mais tarde,
quando estava a passar três meses no apartamento de
um amigo na América, li Bassani de uma ponta a outra.
E agradou-me; na realidade disse-lho mais tarde.
A propósito,
se não de inovadores pelo menos de inovação:
hoje vivemos todos com o computador. Mas neste campo o senhor
foi um pioneiro em Itália…
Comecei a utilizá-lo em
83. Fiz logo que me dessem quatro ou cinco Olivetti para o
meu instituto na universidade e mandei treinar aquela geração
de estudantes.
Essa mesma
universidade era uma inovação. Era o Dams, não
é verdade?
Quando lá cheguei tinha
sido fundado há menos de um ano, não havia mais
de 50 alunos e estávamos juntos de manhã até
à noite. Toda a gente pensava que era um local para
os aspirantes a artistas, mas foi lá que fiz nascer
o primeiro centro de estudos peircianos e dava aulas sobre
o "Crátilo" de Platão e coisas do
género. Mas isso também é história.
Desde o início dos anos 90 que já não
estou no Dams.
O que o fascina
no computador?
Descobri, como conto em "O
Pêndulo de Foucault", que é o instrumento
mais espiritual que já existiu, porque a velocidade
da escrita permite colocar tudo o que nos passa pela cabeça
e seguir tudo o que te vai no cérebro. E depois há
tempo para corrigir, pois é óbvio que vale a
pena guardar tudo o que nos passa pelo cérebro. E no
entretanto realizei o sonho dos surrealistas, a escrita automática.
E agora conseguiria
viver sem um computador?
Às vezes acho que não,
não por aquilo que tenho de escrever, mas sim por aquilo
que já escrevi, porque agora constitui a memória
de todos os meus gestos.
Mas…
Sim, há um 'mas'. E não
é pequeno. Repare, eu tive uma educação
católica na adolescência, intensa, refiro-me
a uma educação para o sacrifício e para
o desprezo pelas coisas terrenas. Além disso, em criança
cresci numa economia de guerra, com o espectro da fome ou
com a perspectiva de que a casa em que vivia fosse destruída
por uma bomba. Tinha de estar sempre mentalizado para perder
tudo o que até ao momento possuía. E eis-me
pronto para o grande blackout de todos os computadores do
mundo. Na semana passada, ao fazer um gesto errado quando
mudava a pilha, apaguei toda a minha agenda electrónica.
Após algumas horas de desespero, apercebi-me de que
é possível viver sem números de telefone.
Basta não telefonarmos às pessoas. O que temos
de tão interessante para dizer-lhes?
Continuando
a falar de inovações, voltemos ao início
da sua biografia. Em 1954 trabalhou na RAI de Turim e, desse
modo, terá contribuído para a criação
da televisão em Itália.
Entrei por acaso. Durante o Verão
tinha acabado a minha tese, mas ainda estávamos em
Setembro, não tinha defendido a tese e não era
diplomado. Estava aberto concurso para apresentadores de televisão.
Um tipo da rádio escolheu-me, a mim, ao Furio Colombo,
ao Gianni Vattimo e ao Michele Straniero. Lembro-me que dissemos
todos que não não tínhamos interesse
nenhum em ser apresentadores de televisão, mas que
era um modo de entrarmos na RAI.
O concurso
foi em Turim?
Não, em Milão. Lá
fomos, prova escrita com uma artigo de jornal, e depois dei
por mim num estúdio sombrio, apenas com uma pequena
luz, e vozes misteriosas que vinham do alto (uma delas era
de Vittorio Veltroni, o pai de Walter, que naquele tempo dirigia
o telejornal). Perguntaram-me como organizaria uma emissão
televisiva sobre poesia. Eu quase nunca tinha visto televisão,
para além de dez minutos num bar, por isso apelei à
imaginação. Respondi que faria recitar versos
de Montale, aqueles sobre a muralha que tem em cima alguns
pedaços de vidro, e no fundo passava imagens de alguns
caminhos da Ligúria, onde há muralhas e vidros
sob o sol que cega.
E convenceu-os?
Acho que ainda ninguém tinha
tentado emissões de TV com poesia, e aqueles lá
no alto ficaram fascinados com a ideia. Fui aceite, juntamente
com Colombo e Vattimo. O Straniero não, não
sei por que razão. Foi uma grande injustiça,
pois de nós quatro ele era o mais espectacular. Encontrámo-nos
depois com aqueles que nos anos seguintes viriam a tornar-se
os apresentadores mais famosos: Tito Stagno, Adriano de Zan,
Sparano, Oddo, e a incrível personagem que era Carlo
Mazzarella. Durante três meses tivemos excelentes professores,
como Pier Emilio Gennarini e Umberto Segre...
E apresentou
notícias?
Não, pois tenho um 'r' fortíssimo,
e naquela altura ainda havia o culto da pronúncia correcta.
Mandaram-me para a secretaria. Era onde se fazia o palimpsesto,
onde se recolhia e tratava toda a informação
relativa aos programas, logo era um ponto de observação
central para compreender todo o mecanismo da televisão.
Por seu lado, Colombo e Vattimo foram para Turim, onde fizeram
uma transmissão para jovens denominada Horizontes e
que foi verdadeiramente pioneira naquela época. Em
cada uma das transmissões estava o Scelba, ou outro
qualquer, que pegava no telefone e ligava para o administrador
delegado da RAI para perguntar se era possível permitir
que a televisão do Estado dissesse coisas daquelas.
E o senhor,
além de observar, que fazia?
Oficialmente nada, durante quatro
anos. Se bem que na realidade fôssemos os autores de
inúmeros textos, pois reescrevíamos os dos colaboradores
externos, que apareciam como os autores. Mas aprendi muitas
coisas, conheci músicos como Berio e Maderna, vivi
no meio dos autores. Trabalhei com a grande personagem que
foi Ferdinando Ballo (o das edições Rosa e Ballo,
que durante a guerra deu a conhecer muita literatura mundial
em Itália) e acontecia-me encontrar no seu estúdio,
sei lá, Brecht ou Stravinski
Nada de convívios
com actrizes, apresentadoras…
Compreende-se. Nós
éramos os funcionários muitíssimo jovens
e era natural que depois saíssemos para dançar
com as raparigas da nossa idade, que eram precisamente actrizes,
manequins, bailarinas, cantoras. Eram célebres os nossos
serões semanais num pequeno apartamento com varanda
que partilhava com dois amigos: a nata da "intelligentzia"
milanesa (poetas, filósofos, artistas) e da graça
feminina (ou seja, todas aquelas raparigas que os outros apenas
viam no ecrã). Bebia-se Cuba libre, ou seja, Coca Cola
e rum, porque era o mais barato. Ganhava 60 mil liras. Ainda
bem que nesses mesmos anos passava muitas noites a estudar
para me preparar lentamente para a "libera docenza"
["docência livre" - título académico
que permite ensinar a título particular nas universidades
e em outros institutos superiores]. Trabalhava de noite e
divertia-me de dia. Mas, repito, vi a televisão por
dentro, segui todos os seus mecanismos, por esta razão
posteriormente fui dos primeiros a escrever sobre a comunicação
de massas, porque teorizava a partir de uma experiência
concreta.
Quando começou
a trabalhar para a editora Bompiani?
Aos poucos. Um dia, Ottiero Ottieri,
que era sobrinho de Valentino Bompiani, mostrou algumas coisas
que eu tinha escrito ao editor. Bompiani precisava reforçar
a redacção e mandou chamar-me. Comecei a trabalhar
para a editora enquanto fazia a tropa. De repente dei por
mim a fazer a colecção Ideias novas, sobre filosofia,
e estava feliz.
Os anos de
editora devem ter sido ricos em experiências…
Sem dúvida. Inicialmente
trabalhávamos junto a Paolo de Benedetti, que agora
é hebraísta a tempo inteiro e a Sergio Morando,
já falecido. Só três piemonteses e Bompiano
dizia-nos que não se havia apercebido que tinha levado
para casa uma mafia piemontesa, mas depois passaram tantos
outros pela editora. Entre os desaparecidos contam-se Nanni
Filippini e Antonio Porta, que conhecíamos pelo nome
verdadeiro, Leo Paolazzi. São também tantos
os que já não se encontram entre nós
de outras editoras: Mario Spagnol, Eric Linder, Luciano Biancardi,
desertor editorial e tradutor por acaso.
Também
ia à Feira do Livro de Frankfurt pela editora Bompiani…
Sim, e na época era um verdadeiro
campo de batalha. Procurava-se descobrir a obra-prima desconhecida,
procurava-se caricaturar a oposição. Circulavam
anciãos respeitáveis, até cheguei ainda
a ver Gaston Gallimard. O frenesi era tal que um dia, ao almoço,
Valentino Bompiani, Paul Flamant, talvez Rohwolt e um outro
de que não me recordo disseram que se alguém
tivesse inventado um autor teriam todos ido à sua procura.
E inventaram Milo Temesvar, que apenas teria escrito "Let
me say it now", pelo qual a American Library dera um
adiantamento de 50.000 dólares (nos primeiros anos
da década de 60). Bompiani volta do almoço,
conta a história a Morando e a mim e começámos
a andar de stand em stand a perguntar solenemente por Temesvar.
Cerca das seis da tarde toda a feira estava em alvoroço.
Às oito, num jantar, Giangiacomo Feltrinelli (nunca
percebi se para desencorajar a concorrência e ter mais
espaço livre para a sua caçada ou por estar
mesmo convencido disso) afirma: "Desistam do Temesvar.
Já comprei os direitos para todo o mundo." Para
mim, Temesvar continua a ser uma pessoa da família.
Algum tempo depois escrevi uma recensão falsa sobre
ele, dizendo que havia sido expulso da Albânia por desvios
esquerdistas e que havia escrito um livro sobre Borges intitulado
"Sobre o Uso dos Espelhos nos Jogos de Xadrez".
Seria de pensar que uma pessoa expulsa da Albânia por
desvios esquerdistas fosse absolutamente inverosímil,
mas vim a saber que Arnoldo Mondadori tinha assinalado a vermelho
aquele artigo, escrevendo "comprar imediatamente".
Milo Temesvar retorna também na minha introdução
de "O Nome da Rosa". Resumindo, hoje estou
também eu convencido da veracidade da sua existência.
Resumindo,
durante a sua vida divertiu-se. Além desse facto, seria
muito atrevimento pedir-lhe, sobre essa mesma vida, um balanço
menos jocoso?
Ao chegar ao 70 anos apercebo-me
que, apesar de ter passado uma vida sem grandes episódios
individuais…
…não
diria isso…
…quero afirmar, sem tragédias,
doenças, exílio, fugas pela pradaria. Apercebo-me,
dizia eu, que apesar disso passei por grandes acontecimentos.
Em criança vivi o fascismo, em adolescente (entre os
doze e os treze anos não se é propriamente uma
testemunha extremamente atenta) o período da resistência,
as tensões da guerra. E por aí fora até
ao atentado às Torres Gémeas… Sou filho
de uma geração afortunada. Os que eram poucos
anos mais velhos do que eu foram muitíssimo infelizes.
Cresceram sob a ditadura, foram dizimados pela guerra, os
que escaparam não puderam terminar os estudos, tinham
dificuldade em saber o que se passava nos outros países,
na sua grande maioria não liam em línguas estrangeiras…
Então pensamos nos sobreviventes, nos que tiveram sucesso
- personagens como Italo Calvino - mas eram uma minoria. A
minha geração saiu do fascismo aos onze anos
e depois teve todo o tempo do mundo para aprender o que queria;
a nossa adolescência coincidiu com o momento do renascimento
e depois do milagre económico. A nossa geração
foi a primeira a apanhar um avião aos 20 anos, viajámos
por todo o mundo e tivemos o mundo dentro de casa, encontrámos
emprego e desempenhámos funções de responsabilidade
desde muito jovens…
E que pensa
da geração seguinte, a de 68?
Foi dizimada como a anterior à
minha. Diria que apenas um terço entrou para a vida
profissional e para cargos de poder, os outros ficaram desiludidos,
a lamber muitas feridas e outra parte passou por fases ainda
mais escuras. Repare, estou desesperado por ainda ter uma
posição de relevo na universidade, dirigir duas
colecções de editoras, tenho uma rubrica num
semanário e coisas do género. Porque é
que ninguém ainda me matou? Onde estão aqueles
que deveriam ter-me morto, pelo menos há 20 anos, como
nós fizemos aos nosso pais? Que pena, que vergonha…
Digamos que
lhe seria possível matar-se a si próprio - metaforicamente
falando. Tem 70 anos e viveu-os bem. Com os direitos de autor
podia levar uma vida de reformado nas Maldivas. Em vez disso
ainda trabalha na universidade e, segundo me disseram, intensamente.
Porquê?
Poderia dizer que é por
canibalismo. Vejo com terror muitos dos meus contemporâneos
que vivem rodeados apenas por pessoas da nossa idade. Viver
com os jovens sustenta-nos. Comemos um pouco da sua carne
fresca, eles comem um pouco da nossa, dura mas saborosa, como
os bifes argentinos. É apenas a tentar explicá-la
aos outros que compreendemos se a ideia que temos na mente
é justa ou pelo menos se podia ser formulada. Além
disso uma pessoa é obrigada a actualizar-se mesmo quando
não tem vontade… Em suma, são todas boas
razões, diria que biológicas. Mas existe outra.
É que no mundo dos media as notícias, as noções,
as ideias, consomem-se num dia, chegam a correr, não
vêm aprofundadas e são deitadas fora. A universidade,
com todos os seus imensos defeitos (seculares), ainda é
um local em que pode levar-se um ano a tratar uma ideia. Onde
ainda se conservam as coisas que eram ditas ontem. E onde
ainda existe um laboratório activo e se debatem hoje
as ideias que chegarão aos media daqui a vinte anos.
E este é o segundo modo de derrotar a morte. 

|