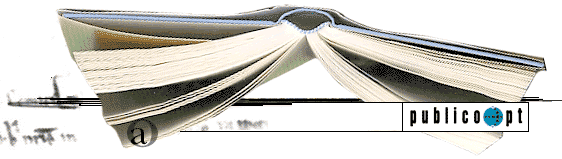| Colecção
Mil Folhas
Lídia Jorge
Por Andreia Azevedo
Soares
Quarta-feira, 24
de Julho de 2002
"Somos pessoas com o seu lado racista. E fomos colonialistas.
O que não queremos é entender isso. Nós
fomos violentos na guerra colonial"
Tal como a vida humana, a história do
mundo sempre foi precária. As narrativas individuais
passam dos murmúrios ao silêncio. Ficam apenas
os relatos oficiais. "A Costa dos Murmúrios"
procura resgatar outros olhares sobre a ocupação
portuguesa em Moçambique. Nesta conversa com o PÚBLICO,
a autora fala da guerra colonial e da necessidade contar tudo
outra vez. Como se narrar fosse a arma derradeira do homem
contra a sua finitude.
A chuva de gafanhotos é talvez a imagem
mais forte de "A Costa dos Murmúrios". O
fenómeno encobre, como se pintasse de verde para desviar
a atenção, o envenenamento de centenas de negros
na Beira, em Moçambique. Mas a metáfora dos
ortópteros também traduz a precariedade da vida
e do discurso humano: os insectos são seres efémeros.
Assim como a história. Daí a urgência
de narrar, de desafiar o tempo. Para que a erosão da
memória não silencie jamais os murmúrios.
Lídia Jorge, escritora algarvia de 56
anos, recorre com frequência à "figura mítica
dos gafanhotos" quando quer discorrer sobre o conteúdo
de "A Costa dos Murmúrios", publicado em
1988 em Portugal e, posteriormente, noutros seis países.
Ela fá-lo porque ali está a síntese do
livro, da mesma forma que a imagem de uma manta de soldado
condensa a essência de "O Vale da Paixão"
(1998), o seu mais recente romance.
A autora tem dez volumes publicados na sua
colecção "Obras Completas", editada
pelas Publicações Dom Quixote - sendo que sete
deles são romances, dois dedicam-se aos contos e um
ao teatro ("A Maçon", 1996). Em Outubro deste
ano, mais um título sairá do seu alfobre literário.
Lídia Jorge não quis falar do novo livro, mas
confessou nesta entrevista o desejo de escrever uma continuação
de "A Costa dos Murmúrios". A sequela trataria
das mazelas africanas após o colonialismo.
PÚBLICO - "A Costa dos Murmúrios"
é a sua obra mais estudada nos meios académicos.
E o livro tem sido, desde a sua publicação em
1988, alvo de sucessivas edições. Como explica
a aceitação desse romance por um público
tão variado?
LÍDIA JORGE - Acho que encontrei em "A Costa dos
Murmúrios" uma espécie de síntese.
Houve ali um cruzamento proveitoso do gosto que tenho por
escrever sobre o que se passa no íntimo das figuras
com a história que as rodeia. Seria uma espécie
de ligação entre o exterior e o interior, entre
o íntimo e o público, entre o pessoal e o histórico.
Esse livro, passando pela imagem mítica dos gafanhotos,
permitiu sempre falar do momento da história e, ao
mesmo tempo, dos sentimentos pessoais. O olhar a partir de
uma varanda de um hotel possibilitou estar dentro e fora.
Isso foi um ponto de vista, e também um ponto de partida,
que torna este livro de fácil entendimento e leitura.
Fácil, mas sem cedência nenhuma. Temos também
a questão histórica que está por detrás.
Mas o livro não é propriamente sobre a guerra
colonial, não tem a descrição directa
dos massacres. Não é como os livros escritos
por autores homens que fizeram guerra - designadamente o caso
do João de Melo e do [António] Lobo Antunes.
Não me coloquei nessa posição, não
tinha essa experiência. Acho que o facto de ter falado
mais das motivações da violência do que
propriamente do teatro de guerra em si leva à compreensão
de um outro tipo de engrenagem. E isso permitiu uma visão
ampla, em que as paixões são colocadas de uma
forma distanciada e interpretativa. A perspectiva é
a de quem fica e não de quem vai para o mato.
Apesar de não descrever a guerra, pesquisou
documentos militares e recolheu testemunhos de quem esteve
lá...
...sim, estive no Museu Militar [em Lisboa].
E fiz uma imensa pesquisa sobre os relatórios das missões
que se faziam ao mato.
Esse trabalho foi importante para a contextualização
histórica ou mesmo para a percepção dos
cheiros e da cor local?
Quer dizer... Eu já trazia [de Moçambique]
as narrativas e a percepção das coisas. Agora,
quando eu passava à descrição de elementos
concretos, queria ter a certeza de que não falhava.
Queria estar certa de que a parte impressionista não
era traída por uma memória arredada, até
porque os anos que descrevo [1968-1969] não são
concretamente os anos em que vivi [em Moçambique, entre
1970 e 1972]. Apercebi-me que as narrativas desse período
ainda estavam muito vivas. Tinha pensado em nunca escrever
sobre esse momento, de tal forma ele tinha sido duro para
mim.
E como foi que o romance se impôs, como
é que "A Costa dos Murmúrios" reclamou
ser escrita?
O romance impôs-se passados muitos anos.
À medida que os anos se passavam - e não eram
tantos assim -, apercebia-me que a memória das coisas
desaparecia completamente. Comecei a ser assaltada pelo sentimento
de que tinha espreitado um momento particular da história
da Europa em relação a África. E de que
a história o traíra na sua essência. Porque
se estava a dar apenas os relatos oficiais das coisas. E os
sentimentos humanos? E os milhares de mortos não tinham
uma cruz verdadeira sobre a sua sepultura? Então, fiquei
com uma necessidade enorme de fazer reviver figuras, figuras
que eu tinha conhecido no auge da juventude. A maior parte
delas já não existiam - umas porque tinham morrido
fisicamente, outras porque desapareciam em vidas lamentosas
e anódinas -, mas eu tinha um desejo enorme de as fazer
viver. Naturalmente, não sou capaz de criar figuras
a partir de seres existentes. São, portanto, abstracções,
criações laterais em relação às
figuras verdadeiras. Mas são uma homenagem para que
elas não se apagassem. Aliás, é por isso
que esse livro se chama "A Costa dos Murmúrios".
É a ideia de que a história se apagava.
Voltou a Moçambique depois de escrever
"A Costa dos Murmúrios"? Qual foi a recepção
da obra lá?
Sim. Vi leitores muito entusiasmados. As pessoas,
muitas delas ligadas às universidades, entendiam muito
bem o livro. E muitas acharam que tinha sido um livro... como
hei-de dizer...
...um livro que finalmente conseguia colocar-se
no lugar do outro?
Sim. Onde eu sinto mais resistência a
esse livro é nalgumas camadas de leitores portugueses.
Há pouco tempo, uma senhora muito simpática
disse-me que gostava de todos os meus livros menos deste ["A
Costa dos Murmúrios"]. E eu perguntei porquê.
Ela disse: "Porque não é verdade. Nunca
envenenámos os negros". Percebi que era uma pessoa
que lá tinha vivido e que se tinha sentido chocada
com aquela imagem que eu lá pus [no livro] do álcool
metílico. Algumas pessoas sentiram-se ofendidas, não
conseguiram transpor isso como uma metáfora. Entenderam
à letra.
Muitos leitores interpretam as atrocidades
do livro como uma metáfora do massacre de Wiriamu,
por exemplo.
Mas isso está certo. Nós não
fomos os anjos por que nos queremos passar. Na altura, eu
era professora de um liceu na Beira. Certa vez, um aluno disse-me
que todas as pessoas da aldeia dele tinham morrido, que ele
já não tinha família. Acho que os portugueses
têm um problema: não querem confrontar-se com
o próprio rosto. Nós somos a nossa própria
forma, somos pessoas com o seu lado racista. E fomos colonialistas.
O que não queremos é entender isso. Nós
fomos violentos na guerra colonial.
Acredita que a dificuldade de Portugal em mirar-se
ao espelho está na difícil aceitação
do colapso de um império ou na culpa histórica
do colonizador?
Acho que são as duas coisas misturadas.
A segunda é consequência da primeira. Durante
muito tempo nós gerimos um império com uma noção
muito mais metafísica do que propriamente física
do império. Tínhamos a ideia de que a nossa
colonização era feita na base das trocas comerciais,
mas a componente religiosa e católica era muito forte.
Tínhamos a ideia de que salvávamos gente. O
que acontece é que começámos a achar
que tínhamos uma missão evangelizadora no mundo,
que tínhamos um império transcendental. E com
isso acabamos por recusar a nossa verdade. Tínhamos
um império mal gerido, com dificuldade de fazer crescer
o outro e até de nós próprios nos gerirmos.
Tínhamos um conceito de exploração imediata,
rápida, sem criar estruturas. Mantivemos até
ao século XX a dualidade de chegar às terras
e erguer uma igreja e um forte militar; enquanto os ingleses,
a partir do século XVIII, onde chegavam punham não
apenas a igreja e o forte, mas também a escola, a universidade,
o hospital e o tribunal. Vamos a qualquer cidade do interior
dos Estados Unidos e encontramos isso lá. Nós
não fizemos isso. Só tivemos universidade depois
da guerra colonial rebentar e mesmo assim era uma coisa pálida.
Temos de nos ver ao espelho. Enquanto não olharmos
para nós, não saberemos a dimensão real
que temos. Estaremos sempre a oscilar entre momentos de depressão
absoluta, em que achamos que não valemos nada, e momentos
de extrema euforia, que evocam noções exageradas
de quinto império.
Essa oscilação esteve patente
durante o Mundial de Futebol.
Exactamente. Vamos do tudo ou nada. Não vemos que prolongamos
essa guerra colonial para além do que era admissível.
E depois surgiram sentimentos contraditórios que ainda
não estão resolvidos. Basta dizer, em relação
à guerra colonial, que o Mário Soares, que é
uma figura de consenso nacional, foi vaiado em frente ao monumento
dos combatentes da guerra do ultramar. Isso significa que
há uma zona que ainda não foi aceite, que está
mal digerida. Ainda hoje há pessoas a escrever sobre
a descolonização. Há ainda pessoas agarradas
a traumas de uma violência que provêm daí.
Parece-me que as situações históricas
mudaram, mas os sentimentos são muito mais lentos do
que os elementos históricos. E é por isso que
a ficção tem um lastro muito maior. Muitos jornalistas
franceses perguntam porque continuamos a escrever sobre isso.
E a resposta é só uma...
... o chamamento continua.
Sem dúvida alguma. Há momentos em que as sociedades
entram em crises tão fortes que todos os espectros
do passado e do futuro estão acumulados. Aquilo que
para mim foi importante neste livro foi mostrar, à
minha maneira, como pessoas que na vida quotidiana eram pacíficas
- um deles era até capaz de vir a ser um grande matemático
[a personagem Luís Alex], e eu considero que a matemática
está perto da grande harmonia das artes e da música
- podem revelar-se outras perante a violência.
A personagem Luís Alex tinha um desejo
mítico de ser um herói.
Ele queria ser um herói em alguma coisa.
Ele tinha energia para isso. Quando era confrontado com o
teorema do Galois, ele punha essa energia em função
de uma descoberta matemática. Porém, deslocado
do seu sítio e colocado numa situação
de violência, ele queria de novo ser um herói.
Então ia pegar nessa energia para se tornar um carrasco.
Isso para mim é um elemento misterioso e de grande
estupefacção. Se alguma coisa eu aprendi nesses
anos de juventude [em Moçambique] foi que nós
não nos conhecemos enquanto não formos confrontados
com grandes cenários de violência e com o espectro
da morte. Foi quase um trauma para mim. Eu achava que quem
era pacífico na paz o era sempre. E não é
verdade. Percebi então que ser corajoso e honrado são
sobretudo performances, competências, coisas adquiridas
por treino.
Essas máscaras sociais são determinadas
por modelos. É daí que vem a importância
da relação mimética que Luís Alex
estabelece com o capitão Forza Leal?
Com certeza. O herói segue sempre os
passos de outro herói. Quer fazer sempre alguma coisa
que outro já fez. Não há herói
sem modelo. Ele é empurrado sempre por uma meta que
alguém estabeleceu antes, que pode ser ultrapassada.
Nesse caso, o herói de Luís Alex era o Forza
Leal, uma personagem com cicatrizes que deixava à mostra,
como prova de um feito heróico. Em tempos de paz, essa
marca física é algo absolutamente ridículo.
Mas em momentos de luta, todos os nossos valores pacíficos
se alteram em função de outras condutas. A ideia
do mártir é algo com muito mais força
do que podemos imaginar.
Eva Lopo, na segunda parte do romance, narra
como se estivesse na varanda do hotel em ruína. O seu
relato, vinte anos depois da guerra, contém o riso,
a ironia...
... e a noção de precariedade
das coisas. Aliás, os gafanhotos são isso: a
imagem do ser no tempo. O que é um homem se não
um gafanhoto voando no tempo? Esses vinte anos revolvidos
permitem a ironia e o desprendimento. Ela troça das
interpretações taxativas dos outros. Nunca tem
certeza das interpretações. Aliás, eu
gostei imenso de ter composto essa figura por isso mesmo,
porque ela não é nada convencional. Não
tem a certeza de nada. Apresenta as várias versões
das coisas.
Mas Eva Lopo nunca é condescendente
com as verdades absolutas.
Pois não. Ela acha que cada um tem a
sua [verdade]. Quanto mais versões houver, mais perto
se estará da verdade. Ela é uma sabedora desse
processo. Tem ideia de que a narrativa convencional é
a que mais se aproxima da totalidade.
Foi por isso que escolheu compor a personagem
como uma estudante da Faculdade de História? Para justificar
esse olhar de Eva Lopo?
Sim, porque ela assim podia falar sobre o assunto.
Ela é sensível à ideia de que se deve
criar uma contra-história. Caso contrário, não
teria nenhum suporte na cabeça que lhe permitisse abrir
a janela para essa problemática que a invade do princípio
ao fim. Ela procura fazer uma interpretação
das coisas.
A personagem Helena de Tróia remete-nos
obviamente para os textos homéricos. E também
para a questão da beleza feminina capaz de desencadear
uma guerra. Como construiu essa figura?
Eu já nem sei muito bem como ela entrou
ali. O "puzzle" exigia que ela estivesse ali. Na
mitologia antiga, Marte está sempre associado à
Vénus. Os homens da guerra têm de si mesmos a
ideia de heróis, de seres de excepção
porque são capazes de matar. Eles têm as regras
de matar, sabem quando se deve matar. Isso dá-lhes
uma superioridade extraordinária, pois as sociedades
estão organizadas para nós não nos matarmos.
Mas o militar sabe que há situações particulares
em que é permitido matar.
É o reverso do privilégio feminino
de dar a vida.
Exactamente. E isso é o passaporte para o ser de excepção.
O que acontece é que a mulher bonita, sobretudo se
é fútil, encaixa perfeitamente nesse quadro.
Serve perfeitamente de vítima ou de observadora da
vítima. Está muito próxima daquele que
vai ser morto. E por alguma coisa elas as duas [Evita e Helena]
vão assistir àquela matança das aves
[numa determinada parte do romance]. No fundo, o que eles
[Luís Alex e Capitão Forza Leal] estão
sempre a dizer é "vocês são belíssimas,
mas nós, se quisermos, podemos destruir-vos completamente.
Vocês são testemunhas daquilo que nós
podemos fazer." As coisas encaixam muito bem: o herói
sacrificado e cheio de cicatrizes e a mulher linda, fútil
e à espera.
Mas a Helena de Tróia é falsamente
fútil. Ela é ardilosa...
Ela saiu-lhe fora do esquema [de Forza Leal].
Aliás, as duas mulheres [Evita e Helena] saem-lhes
fora do esquema. Fazem ali um ensaio da liberdade, de fuga.
Elas são contemporâneas de uma libertação
de si mesmas. Entram dentro do esquema pelas formas convencionais,
só que saem de uma outra forma.
O jogo parece ser sempre subvertido. É
irónica, por exemplo, a forma como Luís Alex
acaba por morrer não na guerra mas num jogo de roleta
russa.
Sim, mas coloquei aí a convicção
de que em toda a estratégia há um lado imponderável.
Uma espécie de jogo irónico que acontece, mas
que nunca é dominado e nunca é previsto. E é
por isso que muitos combatentes, em vez de morrer no próprio
teatro de guerra, morrem em bares, em casa, jogando ao acaso.
Querem desafiar o imprevisível, passar para o outro
lado para ver como é que é. Percebi na pesquisa
que fiz que a roleta russa foi utilizada em muitos teatros
de guerra - no Vietname, por exemplo. Aliás, foi a
pesquisa que também me levou à questão
do cego.
O cego que apresenta a palestra "Portugal
daquém e dalém mar é eterno" descrita
no romance?
Sim. Essa palestra existiu. Era perfeitamente
atraente imaginar que alguém - cego, ainda por cima
- visse esse futuro de Portugal eterno aquém e além
mar. É de um ridículo extraordinário,
mas que mostra a noção metafísica de
um conceito de pátria ainda do século XVI.
Mas a ideia de predestinação,
de que falta cumprir Portugal, ainda persiste...
Isso continua a haver em muitos sítios,
sobretudo em lugares afastados de Portugal, onde se tem uma
visão mítica de Portugal. Só que nós
aqui dentro sabemos bem que Portugal falta cumprir - sim,
pois falta, falta ser mais sério, mais honesto, mais
trabalhador, mais pragmático! É natural que
a distância mitifique a pátria.
E o palestrante era mesmo cego?
Sabe o que é? Tenho receio de que ele esteja vivo e
se reconheça no romance. [risos] E isso seria uma coisa
terrível. É preciso ter muito cuidado. Como
dizia, essa palestra existe e foi-me mostrada no Museu Militar
[em Lisboa]. Há pedaços [no livro] que são
praticamente transcrições. Mas também
assisti a outras palestras e elas eram todas perfeitamente
anacrónicas. Era como se não tivesse havido
a Argélia, o Vietname e todas as independências
africanas. Como se não se soubesse o movimento internacional
após a Segunda Guerra Mundial para que os países
deixassem as suas colónias. Era como se Portugal se
mantivesse no século XVI. Como é que nós
pudemos sacrificar gente atrás de gente? Foi uma coisa
brutal. Só um louco que não quer ver que, em
termos de sentimentos, permanecemos com certos estigmas. Os
mesmos estigmas funcionando noutros tempos.
Afirmou numa palestra que o livro "Porto-Sudão",
do escritor francês Olivier Rolin, seria uma continuação
de "A Costa dos Murmúrios"...
Sim, porque ele [Olivier Rolin] fala de uma
zona de África que é pós-colonial. Fala
das ruínas feitas pelos próprios [africanos],
onde a situação colonial ainda está presente,
mas onde a degradação e o aprofundamento da
miséria feitos pelos próprios e a abertura a
todos os vícios, à criação de
zonas de morte, são a sequência natural do que
está para trás. Quando se vai às ex-colónias
portuguesas tem-se a sensação de estar dentro
do Porto-Sudão - que é uma metáfora da
África dos nossos dias. É um livro soberbo.
Também me interessa a relação entre a
decadência daquele homem que era um revolucionário
associada à decadência da África. Quando
se chega ao fim percebe-se que aquilo que o autor está
a reclamar é a reconstrução de tudo.
Curiosamente, os portugueses não reclamam o mesmo quando
buscam histórias interessantes para escrever e é
por isso que o livro de Pedro Rosa Mendes ["A Baía
dos Tigres"] é um livro fundamental. Extraordinário
pela arte que ele tem de transformar o jornalismo em literatura.
E pela capacidade que teve de reconstruir o nosso mapa mítico
cor-de-rosa em carne. Sinto-me muito orgulhosa por um português
ter escrito aquele livro.
Tem vontade de escrever essa sequela de "A
Costa dos Murmúrios"?
Tenho. Acho que é quase fatal escrevê-la.
Se eu tiver saúde e a vida me permitir, é claro.
Preciso de espaço grande de respiração,
do ponto de vista geográfico, para entender coisas.
Preciso de percurso, de caminhada. Acho que encontro nos sítios
onde os portugueses estiveram elementos de diálogo
para construir a narrativa que me é possível,
que é a de testemunho no tempo que vivo. A gente não
sabe se fica, mas, enquanto escreve, tem a ideia de que está
a escrever uma palavra para eternidade. E tem de ter essa
ilusão para escrever.
Nessa possível continuação
de "A Costa dos Murmúrios", os murmúrios
da história já seriam mais audíveis ou
ter-se-iam desvanecido por completo no silêncio?
Não, acho que a posição
será sempre a mesma. Escrevemos para captar o último
murmúrio antes que se faça para sempre silêncio.
Buscar aquilo que é possível recolher. Não
deixar entrar no silêncio. Não deixar morrer,
recuperar para a vida o mais possível daquilo que acontece.
E assim todos os meus livros serão costas dos murmúrios.


|