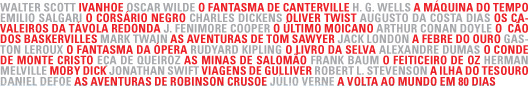Mulherzinhas, americanas
Por Isabel Salema
Quarta-feira, 01 de Dezembro de 2004
Meg, Jo, Beth e Amy discutem a melhor forma
de fazer caracóis com papelotes, mas também a
independência da mulher americana. É o primeiro
volume do clássico de Louisa May Alcott.
Logo nas primeiras páginas de “Mulherzinhas”,
Louisa May Alcott conversa com os
seus “leitores jovens”, afirmando que eles
gostam de conhecer as pessoas com quem vão
lidar. É o momento em que o narrador (aqui
omnisciente) aproveita a ocasião para dar uma
ideia das quatro irmãs, as “mulherzinhas” que
dão o título ao romance da autora.
Fá-lo pela ordem de idades destas jovens
americanas do século XIX: “Margarida, a
mais velha das quatro irmãs, tinha dezasseis
anos. Era uma linda rapariga...”, “Jo, de
quinze anos, era muito alta, magra e morena
e lembrava um poldro”, Beth “era uma rapariguinha
de treze anos, acanhada”, “Amy,
embora fosse a mais nova, era a pessoa
mais importante da família, pelo menos
no seu conceito”.
Mas é em Jo, o retrato da própria autora
— “Mulherzinhas” é um romance bastante
autobiográfico —, aquele em que Louisa
May Alcott mais se detém. Jo quer e acaba
a ser escritora: “Tinha uma boca decidida,
nariz petulante, vivos olhos cinzentos que
pareciam tudo ver e onde bailava uma expressão
ora altiva, ora marota ou sonhadora.
[...] De ombros bem torneados, mãos e pés
grandes, Jo tinha, na maneira despreocupada
com que se vestia, o inconfortável aspecto de
uma rapariga que caminhava para mulher
contra a sua própria vontade.”
O romance de Alcott começa com Jo a
protestar que “Natal sem prendas de Natal
não é Natal” e Meg a dizer que “ser-se pobre
é uma coisa terrível”. Mas rapidamente a
irmã mais velha introduz a razão para a
ausência de presentes, uma sugestão da
própria mãe: “Ela é de opinião de que
não se deve gastar dinheiro em coisas
supérfluas, quando os nossos homens se
sacrificam na guerra.”
O pai, Mr. March, alistou-se como capelão
do Exército porque já não podia fazê-lo como
soldado na guerra civil dos Estados Unidos. A
mãe está ausente, a trabalhar, para suportar
a família. Meg e Jo também trabalham para
ajudar.
Louisa May Alcott dá logo no primeiro
capítulo o novo quadro familiar e social que
provocou a guerra da Secessão: as mulheres
saíram de casa para trabalhar e a ordem das
coisas nunca mais foi a mesma.
Alcott, uma feminista?
É a personagem de Jo, a maria-rapaz, que
verbaliza melhor os desejos da nova mulher.
“É horrível ser-se rapariga quando se gosta
tanto dos jogos, do trabalho e dos modos dos
rapazes. É superior a mim esta desilusão
de ter nascido rapariga, e
não rapaz: o meu desejo, agora
mais do que nunca, era estar
ao lado do papá na guerra, e
não em casa, como tenho de
estar.” Mais à frente o sr.
Brooke, preceptor de Laurie,
o vizinho do lado, faz o
elogio da independência
da mulher americana: “As
jovens americanas amam
a independência, tanto ou
mais do que os seus antepassados,
e são admiradas e
respeitadas por proverem ao
seu próprio sustento sem terem de
depender de ninguém.”
Tal como as mulheres da família
March, é Louisa May Alcott que
consegue sustentar a família, porque
o rendimento conseguido pelo pai, um
filósofo e professor, era muito instável. Só
com “Mulherzinhas”, principalmente com o
segundo volume do romance, publicado em
1869 depois do enorme sucesso da primeira
parte, é que a família Alcott consegue um
sustento regular.
Ao mesmo tempo que a carreira da escritora
cresce continuamente, Alcott torna-se militante
do movimento sufragista, escrevendo para “The Woman’s Journal” e fazendo campanha
porta a porta para conseguir que as mulheres
se registem. Ao contrário das suas mulherzinhas,
a escritora nunca casa e morre solteira,
aos 56 anos, em Boston.
Mas o livro também está cheio de peripécias
mais adequadas ao entretenimento dos jovens
leitores, havendo episódios hilariantes como o
da cabeleireira Jo a fazer caracóis a Meg, antes
de uma festa, que começa com demasiado fumo
e um agoirento cheiro a aves queimadas: “Ao
tirar os papelotes, não apareceu qualquer nuvem
de caracolinhos. As madeixas de cabelos
da irmã vieram presas aos papelotes, e a cabeleireira,
horrorizada, pousou sobre o tampo da
cómoda uma série de embrulhinhos de cabelo
e papel enegrecidos e queimados.”
O livro foi várias vezes adaptado para cinema,
sendo a última feita em 1994 pela realizadora
americana Gillian Armstrong. Winona Ryder
faz de Jo, Claire Danes faz de Beth e Kirsten
Dunst de pequena Amy, mas a Jo mais famosa
é de Katharine Hepburn, dirigida por George
Cukor em 1933, que se identificava muito com
a sua personagem.

|