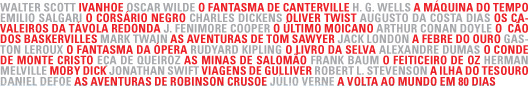Bem-vindos à terra do "nonsense"
de Lewis Carroll
Por ANDRÉIA AZEVEDO SOARES
Quarta-feira, 3 de Novembro de 2004
Na obra “Alice no País das Maravilhas”, de Lewis Carroll, é possível
mudar o corpo de tamanho, encontrar gatos e lagartas falantes, bem
como escutar histórias sem pés nem cabeça. São prodígios de um
mundo subterrâneo que nos seduz e espanta ao mesmo tempo.
Alice é uma criança entediada com o mundo
que a rodeia. O livro “Alice no País das Maravilhas”
começa, aliás, com esta personagem
sentada à beira-rio “sem ter nada que fazer”
e, por isso mesmo, “farta” da sua própria vida.
Quando irrompe à sua frente um coelho
branco, vestido com um colete e munido de
um relógio de bolso, a menina sente-se mediatamente
seduzida a segui-lo. Obsessivo com
o tempo, o Coelho Branco corre em direcção
à sua toca — uma cavidade que representa a
porta de entrada para um universo irreal — e,
por impulso, Alice vai atrás dele. À sua espera
está um mundo que, apesar de maravilhoso,
não traduz a perfeição de um conto de fadas.
O matemático britânico Charles Lutwidge
Dodgson (1832-1898) escreveu “Alice no País
das Maravilhas” motivado por uma viagem
de barco, no Verão de 1862, com as três irmãs
Liddell. Uma delas era Alice (1852-1934), uma
figura central na vida de Dodgson, que lhe
terá sugerido a escrita de tão maravilhosa
narrativa. Assim nasce a história infantil de
língua inglesa mais conhecida no mundo. Uma
obra publicada em 1865, sob o pseudónimo de
Lewis Carroll, que há sucessivas décadas
intriga leitores pequenos e adultos. Seis anos
depois, veio a lume a sequela “Alice no País
dos Espelhos”.
Afinal, o que tem Alice de tão especial? Seria
difícil responder nesta página. Numerosos
estudos já foram publicados, pertencentes aos
mais diferentes domínios — da matemáticaà psicanálise, passando pela semiótica e a
teoria literária. Há, contudo, uma constatação
quase incontornável: Carroll concebeu
uma história não só eficaz no âmbito daquilo
que se espera de uma narrativa infantil, mas
também uma obra capaz de se desdobrar em
subtilezas da língua, da essência humana, das
reacções subconscientes, das organizações da
sociedade, bem como em questionamentos
da moral vigente, das ortodoxias veladas e
da própria existência do indivíduo. Este conjunto
primoroso de reflexões está enredado
na trama do texto, sem lhe retirar frescor ou
lhe acrescentar fardos.
Carroll, por vezes, faz da página que seguramos
um espelho, obrigando o leitor a um
confronto consigo mesmo e com o desejo de
um mundo paralelo, uma secção alternativa
da existência que porventura nos abrigasse
no subterrâneo. “Quem és tu?, disse a Lagarta.
Estas palavras não eram lá muito encorajadoras
para começar uma conversa. Alice respondeu
timidamente: Eu... Senhor, eu agora
neste momento nem sei. Sei, pelo menos, o que
eu era, quando me levantei esta manhã, mas
acho que devo ter mudado várias vezes desde essa altura”, responde Alice à Lagarta, num
excerto com óbvias referências à dinâmica da
psicologia humana.
Entre o caos e a ordem
Em síntese, a aventura de Alice
condensa uma vontade humana
de romper com o pré-estabelecido.
Após entrar na toca do coelho, a
menina cai num poço muito fundo
e vai parar num lugar com regras
próprias e destituídas de sentido
face ao mundo real. Alice deparase
com figuras oníricas como uma
Rainha de Copas sanguinária, um
gato Cheshire que é uma cabeça
sem corpo, um Humpty Dumpty,
uma lacrimosa Tartaruga Fingida
e um chapeleiro maluco. “É que,
como estão a ver, tantas coisas fora
do normal tinham já acontecido que
Alice começava a pensar que poucas
eram, na verdade, impossíveis”, escreve
Carroll.
Para viver neste espaço recheado de
pessoas e situações “nonsense”, Alice está
constantemente a reformular conceitos e
comportamentos. Sente-se atordoada pela
forma como desordenaram o seu mundo
prévio, mas ao mesmo tempo tocada
pelo assombro próprio do caos. Como
resposta ao desconhecido que se lhe
apresenta, Alice literalmente aumenta
e diminui de tamanho: depois de beber
uma poção especial, “não tem agora mais
do que 25 centímetros de altura, e a sua cara
resplandecia de felicidade ao pensar que
atingiria o tamanho ideal para passar pela
portinha de entrada para aquele jardim tão
lindo”.
O prodígio torna-se desconforto quando a
personagem percebe que, mesmo no aparente
caos, existe uma ordem intrínseca. Quando
a Rainha de Copas se sente contrariada, por
exemplo, ordena que aniquilem os indivíduos
inoportunos. Apesar da menina saber que se
trata de uma ordem corriqueira na vida
de vossa majestade, um desejo de evasão
domina-a. “Alice principiava-se a sentir-se
pouco à vontade; é certo que não tinha tido
nenhum briga com a rainha, mas sabia que
isso podia acontecer de um momento para o
outro. (...) Estava ela à procura de uma maneira
de escapar, e magicando se conseguiria
ir dali para fora sem que a vissem”, escreve
Carroll, sugerindo talvez a vontade que há em
todos nós de transbordar os limites do desconhecido,
mas, ao mesmo tempo, nos manter
protegidos do incerto.
Uma aventura no cinema
Depois de uma curta-metragem realizada em 1903, a história de “Alice no País das Maravilhas” conheceu uma adaptação de relevo três décadas depois, com a actriz Charlotte Henry na pele da protagonista. Em 1951, o filme animado da Walt Disney tornou-se na sua versão mais célebre, sendo nomeado para o Leão de Ouro do Festival de Veneza e para o Óscar de Melhor Banda sonora. Hoje, é talvez a obra mais representativa do universo mágico de Lewis Carroll.
Em 1999, um luxuoso telefilme regressou ao “País das Maravilhas”, contando no elenco com alguns actores famosos como Whoopi Goldberg, Christopher Lloyd e Ben Kingsley.

|