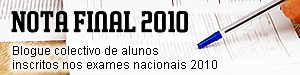Ser professora de Português é, de facto, a minha grande vocação. No entanto, esta paixão vive assombrada por alguns males. E a semana que se vive, a dos exames nacionais, é o principal factor responsável por esta situação, não por causa dos exames em si, mas por tudo o que está por detrás dos mesmos.

Enquanto professora de Português do Ensino Secundário, reconheço como especialmente árdua a tarefa de preparar alunos para um exame que obedece a um modelo com o qual nem sempre consigo concordar e cujos critérios de classificação nem sempre correspondem ao que parece mais claro ou justo aos correctores. Também nem sempre se me afigura como fácil a tarefa de tentar transmitir a tranquilidade necessária aos alunos - embora nunca tenha deixado de o fazer, ciente de que tal estado, associado a um trabalho rigoroso, pode ser determinante para um bom desempenho no dia h, o dia do exame nacional.
A tranquilidade não tem sido fácil de transmitir aos alunos essencialmente devido à conturbada história que relaciona o actual programa de Português, o exame correspondente e a terminologia linguística que lhes está associada. Esta história, no fundo, representa o estado do ensino da Língua Portuguesa - o processo de implementação de mudanças nesta área fez-se como muitas coisas no nosso país: a partir do telhado.
Ora vejamos, o modelo de exame de Português de 12º ano actualmente em vigor surgiu no ano lectivo 2005/06 e coincidiu com o primeiro ano em que os alunos do novo programa de Português fizeram exame. E o referido programa, decorrente do processo de revisão curricular do Ensino Secundário que teve início em 1997, tinha surgido, em 2001/02, com uma nova terminologia linguística, prescrito como se se tratasse de uma terapêutica para resolver alguns dos males do ensino do português. Todavia, a terminologia que este novo programa refere logo nas páginas iniciais só surge três anos depois, a 24 de Dezembro de 2004. Repito, em 2001 foi homologado um programa de 10º ano com uma terminologia que só nasceu em 2004.
Ao jeito de um parêntesis, note-se que sempre estive de pleno acordo com a necessidade de uma revisão terminológica, reconhecendo que a nomenclatura de 1967 há muito que deixara de “constituir uma referência produtiva”. Escolas e professores orientavam-se por uma tradição quase anónima e pelos manuais, surgindo assim a inquestionável necessidade de uma revisão. A título de exemplo, na minha formação universitária de base e na formação profissional nunca me falaram explicitamente da terminologia de 1967 e foi já no âmbito do meu projecto de doutoramento que, pela primeira vez, li a Portaria 22 664 de 28 Abril de 1967. A revisão terminológica era, efectivamente, necessária. Mas era dispensável que este processo tivesse sido tão cheio de avanços e recuos e que a terminologia fosse implementada de modo intermitente: ora a Terminologia Linguística para o Ensino Básico e Secundário (Tlebs) é lei; ora é suspensa; ora é revista; ora muda de nome e passa a chamar-se Dicionário Terminológico (DT).
Enfim, isto para dizer que o primeiro exame deste programa, em 2006, foi vivido por mim, como professora, com especial apreensão: um novo modelo de exame (o polémico exame que ia ter questionários com exercícios de escolha múltipla e verdadeiro/falso) que coincidia com a primeira vez que o novo programa, que antecipava uma nova terminologia linguística, ia ser testado.
Mas o que me preocupa não é a história do primeiro ano. Nos anos seguintes, esta situação, que deveria estar ultrapassada, manteve-se. Na verdade, a casa ainda está pelo telhado. Os programas do ensino básico continuam a ser os mesmos (recordemos a recente suspensão dos novos programas de Língua Portuguesa do Ensino Básico). Os exames do 9º ano também não mudaram. Tudo isto como se não tivessem ocorrido alterações de fundo e não se esperasse dos alunos no ensino secundário o domínio de alguns conceitos que não aprenderam no básico. Por este motivo, este ano temos mais uma geração de transição - transição entre terminologias.
Como investigadora, planeara em 2004 desenvolver um projecto cujo objectivo seria analisar os Novos Programas de Português e as consequências da Nova Terminologia no âmbito da matriz discursiva das aulas de Língua Portuguesa e no comportamento linguístico dos alunos. Mas o percurso conturbado de implementação da Tlebs obrigou-me a redireccionar o projecto e a alargar o âmbito dos instrumentos que analisei, pelo que obtive uma visão mais alargada da cadeia de influências sobre o discurso da sala de aula. Neste projecto, constatei que a rede de relações entre os diferentes tipos de fontes que influenciam o discurso da sala de aula é muitíssimo complexa. Conclui que estas relações partem sempre dos programas, chegando ao elemento último desta cadeia, o aluno, por caminhos distintos e via mediadores diferentes. Neste percurso, os exames são uma fonte de influência da matriz discursiva da aula de Português que também se destaca.
E são estes dois elementos, programas e exames, os que mais levam a mudanças na matriz discursiva. Por último, verifiquei que os professores tendem a adaptar as suas práticas sobretudo por influência da avaliação externa, ou seja, os exames, pelo que esta se reveste de dupla importância. Por um lado, o exame nacional regula o ensino do português e, por outro, exerce um papel coercivo ao levar à plena aplicação dos currículos.
Todavia, quando programas da mesma disciplina em ciclos diferentes não são coerentes, quando os respectivos exames retratam essa mesma diferença, não estão criadas as condições necessárias para o sucesso. Num momento em que a matriz discursiva das aulas integra cada vez mais novas fontes de influência (pensemos no computador Magalhães, nos quadros interactivos e todos os sucedâneos dos programas e manuais que são colocados aos dispor de alunos e professores), temos ainda um problema de raiz para resolver - colocar os elementos principais na construção desta casa: os pilares. E é esta a actual situação do ensino do português.
Deste modo, a apreensão ao ver mais um exame chegar, ainda que de consciência tranquila e confiando no meu trabalho e no dos alunos, repete-se. Pode sempre haver uma surpresa neste conturbado complexo de engenharia que não vem respeitando as regras básicas de construção, pois parece-me ser do senso comum admitir que não se começa a fazer uma obra pelo telhado.
Professora de Português do ensino secundário, co-autora do blogue “Educar em Português”