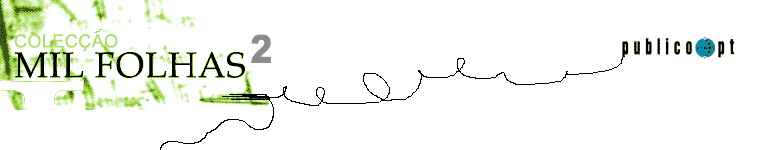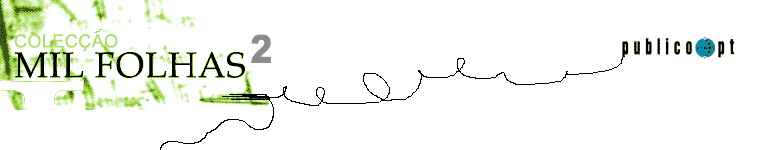|
”Húmus”, de Raul
Brandão
Um diário? Um romance? Mesmo
que inclassificável, trata-se de “uma obra-prima
em qualquer literatura”, dirá David Mourão-Ferreira
Por Carlos Câmara Leme
“Acabo de reler o ‘Húmus’,
de um fôlego, numa só noite, e dessa leitura
saio, ao mesmo tempo, sufocado e eufórico.”
É difícil imaginar, quanto mais
conceber, que uma das vozes mais solares da poesia do século
XX português como é David Mourão-Ferreira
pudesse ter lido numa só noite “Húmus”.
Até porque é o próprio poeta e ensaísta
que logo confessa: “[Fiquei] impregnado até aos
ossos de uma sensação física de ‘mixórdia’
e de ‘espanto’.”
David Mourão-Ferreira escrevia estas
palavras em 1967 (“Tópicos Recuperados”,
Lisboa, 1992), no ano em que se celebrava o centenário
do nascimento de Raul Brandão (n. 1867, Foz do Douro,
m. 1930, Lisboa). E punha um dedo numa ferida que, ainda hoje,
lateja: será “Húmus” “a”
obra-prima do autor popularizado por títulos como “Os
Pescadores”, “Os Pobres” ou, para todos
aqueles que têm no coração os Açores,
“As Ilhas Desconhecidas”?
O ensaísta arrisca (e muito). É
“‘uma’ obra-prima da nossa literatura; ou
melhor: ‘uma’ obra-prima em qualquer literatura”.
O caso de “Húmus” é
bicudo nas letras pátrias. Diário? Romance?
Inclassificável? A nebulosa adensa-se quando um dos
mais importantes estudiosos e o biógrafo de Raul Brandão,
Guilherme de Castilho, “baralha” ainda mais o
leitor: “Um romance (...) de maneira nenhuma poderá
ser considerado.” E acrescenta: “Embora seja este
o género de que mais se aproxima.”
Guilherme Castilho, no indispensável
livro “Vida e Obra de Raul Brandão” (Lisboa,
Bertrand), está, quando escreveu estas linhas, a ter
em conta o que disse a crítica quando o livro saiu
em 1917, na sua primeira versão. Teve três, qualquer
delas diferente. Em 1978, nota: “Se quisermos pôr-nos
em uníssono com a nomenclatura, tão em voga,
lançada por Sartre (...), julgo que podemos chamar
ao ‘Húmus’ um verdadeiro ‘anti-romance’.”
E o que pode representar “Húmus”
no Verão de 2003, depois do “pensiero ebole”
da pós-modernidade? Uma feroz e angustiante contemporaneidade.
“Ouço sempre o mesmo ruído de morte que
devagar rói e persiste...” Assim começa
“Húmus”. “Ouves o grito? Ouve-lo
mais alto, sempre mais alto e cada vez mais fundo?... —
É preciso matar segunda vez os mortos.” É
a “sentença” final do livro. Entre as duas,
a estrutura temporal tem a duração de pouco
mais de um ano, com três estações —
o Verão eclipsa-se... —, e formal de 19 capítulos.
A voz de Brandão em “Húmus”,
essa, é prenhe de leituras possíveis. “Agora
não contenho a multidão que constitui a minha
alma. Não estou só e ouço-os que clamam
cada vez mais alto.” Aqui e agora, nós, vivos
ou mortos, estamos entre eles.
|
|
|