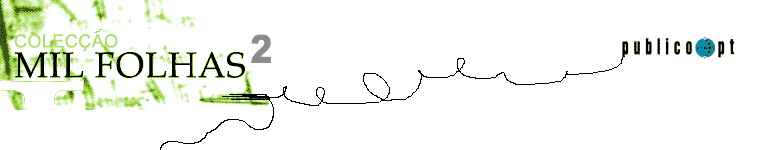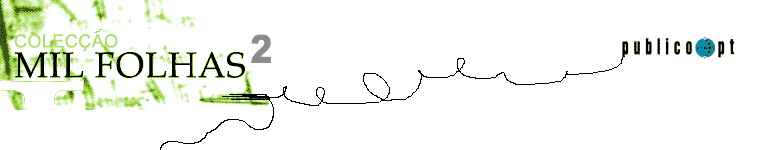Nada - Tudo
Depois de se ler "Húmus",
a obra-prima de Raul Brandão, ninguém fica como
era. Não há meio termo - ou se ama ou se odeia.
"Há no mundo uma falha. É a morte que faz
falta à vida."
Por Carlos Câmara Leme
"A Vila
13 de Novembro
Ouço sempre o mesmo ruído de morte que devagar
rói e persiste..."
Dedicado "ao mestre Columbano", é
assim que Raul Brandão (n. 1867, Foz do Douro-m. 1930,
Lisboa) traz à luz do dia "Húmus".
A partir do excelente trabalho de Maria João
Reynaud para a colecção Obras Clássicas
da Literatura Portuguesa (patrocinado pelo Instituto Português
do Livro e das Bibliotecas, a que a Campo das Letras se associou,
numa aposta fora de vulgar em Portugal, ao juntar numa mesma
caixa as três edições-versões do
livro, de 1917, 1921 e 1926), ficamos a saber que pouco se
conhece do princípio dos princípios de "Húmus".
Pouco importa. Interessa, isso sim, notar que se trata de
um "work in progress", solitário, sofrido,
que terá consumido muitas horas, dias (e noites certamente)
ao escritor.
Ora de jacto ora numa caligrafia menos atabalhuada
mas sempre inclinada (coteja-se os fac-símile que M.
J. Reynaud incluiu no terceiro tomo), ao que o leitor não
ficará indiferente é ao uivo vertiginoso - "o
meu ritmo - é cólera", desabafará
o romancista -, visceral e vibrante que a sua escrita encerra.
Raul Brandão não dá descanso.
De todo em todo não se aconselha levar "Húmus"
para férias, a não ser que queira desassossegar
a sua alma. Construído em forma de diário fragmentado,
com rápidos lances, descrições realistas
e fantasmagóricas, personagens vivas-mortas, um alter-ego,
Gabiru, "Húmus" tem como cenário (um)a
Vila. Um microcosmos universal de demência a que nem
o tempo escapa. "Estamos aqui todos à espera da
morte! estamos aqui todos à espera da morte!",
lê-se no final do primeiro capítulo.
Ao longo de 19 capítulos e de três
estações de um ano - o Verão escapa à
trituração do escritor -, diante dos nossos
olhos vão desfilando seres abjectos (só Joana,
a mulher da esfrega, é um pouco salvaguardada: "Cabem
na noite os mundos infinitos mas só me interessa a
alma de Joana"). Basta os nomes para nos arrepiarmos:
Procópia, Eleutéria. Biblioteca, Teodora, Restituta,
Adélia. Odeiam-se de morte.
O jogo da morte
Mesmo quando podia existir a mínima nesga de ludicidade.
"Desde que o mundo é mundo que as velhas se curvam
sobre a mesa do jogo. O jogo banal é a bisca - o jogo
é o da morte..." Perante o espectáculo,
o narrador lúcida e absurdamente (não, não
é uma contradição na escrita de Brandão
e muito menos em "Húmus") aduz: "Não
sei bem se estou morto ou se estou vivo..." Nem bem nem
mal. Esse é o sufoco maior que (nos) acompanha do princípio
ao fim desta obra-prima e finissecular das nossas letras.
Nada é a preto e branco. Nem o Nada,
quanto menos o Tudo. Há uma paleta de cores que atravessa
e transfigura o romance. Neste lance portentoso, a alteridade
do eu, da relação do eu consigo próprio
(um "ser para a morte", a rasar a definição
do filósofo alemão Martin Heidegger, em "Ser
e Tempo") e com o que nos rodeia. A natureza, e dentro
dela a simbolística da árvore como da água
- "Só a água fala nos buracos", escreve
Herberto Helder no seu também fantástico poema
"Húmus"). E os outros. Mais precisamente,
o Outro, com várias interpretações do
mundo numa alteridade em permanente mudança.
Raul Brandão sofre. Estamos perante
uma das escritas mais dolorosas em que a literatura se cumpriu,
no fio da navalha, com "olhos aguados de peixe",
não dando tréguas a ninguém. Mesmo quando
pensamos que há uma nesga de esperança, num
texto que tem uma carga onírica fortíssima,
somos levados a entrar na luz das trevas.
Esta contaminação conduz-nos
ao dilema central de "Húmus". "Perpétuo
combate a que bem quero pôr termo e que só tem
um termo - a cova. Eu e o outro - eu e o outro... E o outro
arrasta-me, leva-me, aturde-me. Perpétuo debate a que
não consigo fugir, e de que saímos ambos esfarrapados
à espera que recomece - agora, logo daqui a bocado
- porque só essa luta me interessa até ao âmago...
Estou pronto!"
E o leitor estará? A "Húmus"
aplica-se uma banalidade. Verdadeira. Depois de se ler este
livro não se pode ficar indiferente. Não há
meio termo: ou se rejeita ou se adere. Ou se ama ou se odeia.
"Nada - Tudo."
Obra aberta, em sentido figurado e literal,
em "Húmus" cabe um sem número de leituras.
Há momentos em que se antevê uma saída.
O das palavras, de uma poética. Que Raul Brandão
gere com uma mestria de gigante, com cadeias textuais em repetição
que reenvia para outros núcleos do livro: "E tanto
vale a pena para o caso o génio da consciência,
como o ridículo em frente da consciência. - Valeu
a pena não matar? - pergunto - perguntas - perguntam."
Mas as palavras são punhais nesta terra de ninguém.
"É com as palavras que os mortos se impõem".
Céu e inferno (título de um capítulo).
Também não: "Só há no céu
e no inferno um espectro pior."
Deus? "Eu creio em Deus", põe
Brandão na boca de Gabiru. Mas no último capítulo
aparece a estocada (fuga?) final. Fatal...
"25 de Dezembro
Há no mundo uma falha (...) É a morte que
faz falta à vida." Já apanhámos
vários socos no estômago. Mas a ressoar, voltamos
ao "mesmo ruído de morte que devagar rói
e persiste". Nos confins dos tempos, nas derradeiras
linhas. "É preciso matar segunda vez os mortos."
|