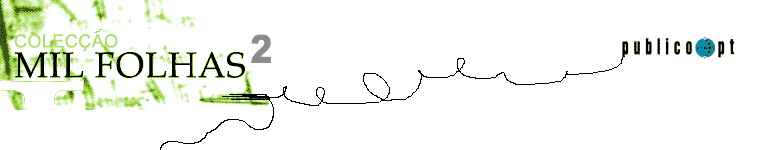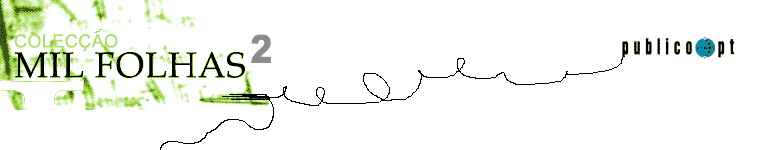|
Edith Wharton “O amor impotente”
Era um tempo de atenção às
etiquetas, aos rituais da elegância, à exibição
da decência. A elite de Nova Iorque estava tão
rotinada em evitar as coisas desagradáveis que, às
vezes, perdia a flor da vida. Deixava-se estar. Abdicava do
amor.
Por Luís Miguel Viana
Logo na primeira frase — “Numa
noite de Janeiro no início dos anos 70, Chistine Nilsson
cantava o ‘Fausto’ na Academia de Música
em Nova Iorque” — Edith Wharton traça o
ambiente romanesco, social e histórico de “A
Idade da Inocência”. É pela porta da ópera
que se entra no quotidiano da melhor sociedade novaiorquina
do último quartel do século XIX, a mesma que
vivia lado a lado com a cidade enlameada, desregrada e violenta
dos “gangs” do último filme de Martin Scorsese,
numa época em que as principais dores de parto da nacionalidade
começavam a dissipar-se. É um tempo de reforço
dos alicerces económicos da alta burguesia norte-americana,
que irá dominar o mundo. E de afirmação
do seu estilo próprio de sofisticação,
dos seus códigos mundanos, dos seus rituais de classe.
A narrativa de “A Idade da Inocência”
inicia-se a partir do olhar de Newland Archer, um dos filhos
predilectos dessa “velha” Nova Iorque que se reunia
ao princípio da noite de casaca e vestido comprido.
Newland é um promissor cavalheiro que seduz pela elegância
com que conjuga a jovialidade da “nova geração”
com o cumprimento integral de todas as convenções
em que a vida da elite da cidade está moldada. É
atentíssimo à forma “como as coisas se
devem fazer”. Faz parte de um mundo organizado para
proteger o seu estatuto, onde se teme mais um escândalo
do que uma doença, onde se coloca a decência
acima da felicidade, onde a exibição pública
das emoções é considerada de mau gosto
e, pior, simplória.
Newland Archer, que conhecemos no encanto dos
vinte e poucos anos, fresco como uma rosa, está prestes
a anunciar o noivado com a não menos encantadora May
Welland, filha de uma família tão rica e distinta
como a sua. Ela é alta, loura, tem músculos
tensos, cintura fina, e transporta consigo um sorriso feliz
de ninfa que parece pertencer tanto ao seu rosto como os líquidos
olhos azuis. O que mais agrada a Newland na noiva, porém,
é a sua determinação em levar às
últimas consequências o ritual, em que ambos
tinham sido educados, de ignorar “o desagradável”.
O namoro não é perturbado por arrebatamentos
sentimentais, mas antes dominado pela ideia de construirem
a “paz”, a “estabilidade”, uma sofisticada
“camaradagem” entre cônjuges.
Este projecto de casamento perfeito é
perturbado pela controversa chegada da Europa da condessa
Ellen Olenska, outra filha daquela sociedade, ainda prima
de May. A condessa Olenska chega após um acontecimento
terrível (para o meio): separara-se, ou melhor, abandonara
o marido, o conde, que era “um bruto”. Deixara
o casamento, permanecera uns meses na Europa (o que levantou
rumores) e, agora, regressava “a casa”.
A controvérsia da sua chegada não
se deveu ao acolhimento que os Lovell-Mingott lhe deram —
apesar de tudo os nova-iorquinos não eram insensíveis
à solidariedade familiar. A controvérsia deflagrou
quando estes decidiram levar aquela mulher, refirase que muito
bela, para a vida social como se não houvesse uma separação!
O sentimento geral foi sintetizado por Mr. Sillerton Jackson
quando, espreitando pelo binóculo na ópera,
a viu sentada no camarote da família — “Não
pensei que os Mingotts se atrevessem”, murmurou.
O abismo da ambivalência
Pouco a pouco, todavia, a condessa reintegra-se. Não
sem reparos, nomeadamente por se apresentar com peças
longas da costura europeia, por vezes de veludo vermelho,
com peles negras e brilhantes a envolverem-lhe o pescoço,
produzindo algo de perverso ao usar à noite, em salões
aquecidos, essa mistura provocante de colo coberto e braços
nus. Ela, na verdade, era diferente: tece comentários
irreverentes sobre Nova Iorque com uma simplicidade desarmante,
quebra regularmente tabus sociais, assume a dor que é
rever-se naquele absurdo. Tem um projecto improvável:
“Quero ser livre, quero apagar o passado.” O seu
aspecto e tom de voz, com uma leve dureza nas consoantes,
envolvemna numa inacessibilidade suave que acaba por fascinar
Newland Archer. Fascina-o, não pelas mesmas razões
porque ele escolhera May Welland para noiva, mas precisamente
pelas contrárias.
Newland mergulha então no abismo da
ambivalência, oscila entre sociedade em que sempre acreditou,
e da qual May faz parte, e a possibilidade de a superar, de
que a passagem de Ellen Olenska é um luminoso sinal.
Oscila, mas não se decide. Ou antes, vai decidindo
não decidir. Ama, mas sente-se impotente. Deixa-se
tomar pela inércia que o prende à normalidade
do “seu meio”. May, com quem entretanto casa,
também ajuda a esse desenlace. Ela possui os fabulosos
recursos das sonsas — a voz clara, a solicitude de esposa,
a doçura de feitio, arazoabilidade das exigências.
Também ela é, dentro do género, uma mulher
notável.
A “Idade da Inocência” é
um romance sobre personagens que sentem a vida a fugir-lhes
dentro da estufa dourada onde, com requinte e elegância,
vão passando os dias. Há nos diálogos
tantos detalhes psicológicos que sentimos distintamente
o coração dos homens a parar no preciso instante
em que se torna claro que os seus sentimentos são conhecidos.
E é como se vissemos o brilho das lágrimas eminentes
(que nunca rolam) quando as mulheres jogam os destinos em
conversas civilizadas, serenas, em salas forradas com veludo
e madeiras exóticas.
Edith Wharton faz na “Idade da Inocência”,
tal como na maior parte da sua obra, uma crítica irónica
e demolidora às convenções da sociedade
elitista que ela, filha de uma abastada e elegante família
de Nova Iorque, conheceu bem. Os pormenores de ambiente, esses,
são tão ricos que definem uma época e
uma sociedade com uma perfeição que a literatura
poucas vezes alcançou.
|
|
|