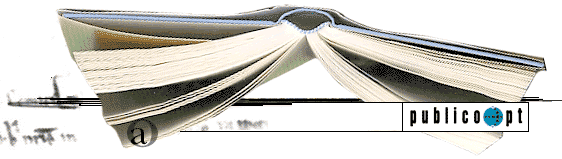| "Sou Pouco Comunicativo,
Sou Rápido a Ouvir, Não Sou de Conversas"
Quarta-feira, 25 de Setembro de 2002
Entrevista com Mário de Carvalho
"Era Bom que Trocássemos Umas Ideias
sobre o Assunto" é um livro cheio de referências
intertextuais, caricaturas, humores e derivações.
Brinca e joga deliberamente com o leitor, utilizando o riso
como uma forma de dar a "intenção trágica,
talvez amarga", de certas situações. O
19º título da Colecção Mil Folhas
foi o pretexto para uma conversa com o seu autor, Mário
de Carvalho. Por Marisa Torres da Silva
Como é que se consegue juntar, numa
só obra literária, o PCP, a Igreja Católica
e o jornalismo? A resposta está toda no livro "Era
Bom que Trocássemos Umas Ideias sobre o Assunto",
publicado em 1995. No meio de algumas considerações
sobre fenómenos sociais portugueses, está a
história de um homem que quer aderir ao Partido Comunista,
depois de um passado mais ou menos obscuro e perante um presente
mais ou menos infeliz. A intervalar as diligências e
os esforços empreendidos pelo aspirante a militante
comunista, encontramos uma série de personagens também
elas caricaturais - entre as quais, Jorge de Matos, um professor
e dramaturgo céptico, Eduarda Galvão, a jornalista
dotada de uma "genialidade secundária", Vera
Quitério, que tem a mania de fazer festinhas nas caras
das pessoas e que pronuncia com bastante frequência
a frase "era bom que trocássemos umas ideias sobre
o assunto." A propósito deste divertido romance,
Mário de Carvalho falou sobre o humor, o jornalismo
actual, o seu processo de escrita, os leitores e Álvaro
Cunhal como autor.
PÚBLICO - "Era Bom que Trocássemos
Umas Ideias Sobre o Assunto" é assumidamente caricatural,
e "contém particularidades irritantes", sublinha
a contra-capa. Qual é a necessidade dessa advertência
prévia para o leitor?
MÁRIO DE CARVALHO - Através do livro todo, há
uma série de jogos com o leitor, que estão contidos
no texto e também no chamado paratexto, ou seja, as
epígrafes do livro, como por exemplo, a de Sá
de Miranda ou a de Camilo Castelo Branco. Não é
por acaso também que se assume que todas as personagens
são especialmente carregadas. Caricatura, como sabe,
vem do italiano, de "carica", que quer dizer carga.
Isso significa que é uma outra forma de utilizar aquela
fórmula muito habitual em ficção: "Os
acontecimentos narrados são puramente ficcionais. Qualquer
semelhança com a realidade é mera coincidência".
Portanto, as personagens do livro não
correspondem a ninguém em particular, são uma
espécie de amálgama de expressões, de
modos de ser...
São personagens não do mundo
real, mas do mundo ficcional, mundos que eu distingo aliás
com muita insistência e muita determinação.
Utiliza frequentemente o humor. É uma
forma de tornar as coisas mais presentes para o leitor ou
um modo de escapar à realidade?
Talvez uma forma de dar a intenção
trágica, talvez amarga, de certas situações.
Curiosamente, alguns dos escritores da grande literatura são
escritores cómicos. Basta pensar em Cervantes, Sterne,
Swift, ou o nosso Eça de Queirós, ou no Camilo
Castelo Branco, quando nos fazem rir, deliberadamente. E isso
é uma forma de nos dar o outro lado das coisas. Está
para sair uma nova tradução de um livro do qual
eu gosto muito, "Almas Mortas", de Nikolai Gogol,
que é um autor também ele humorista. É
um livro que nos faz rir praticamente do princípio
ao fim. Entretanto, quando o autor comentava o livro com um
outro escritor russo, Alexander Púchkin, este disse-lhe:
"É tão triste, a nossa Rússia..."
Muitas vezes, este riso e esta vontade de rir podem subentender
amargura e tristeza. Penso que o autor é sensível
a isso. O riso é um modo de dar o outro lado das coisas,
a sua "carga", o seu peso.
Por que razão a figura do jornalista,
incorporada na hilariante personagem de Eduarda Galvão,
recebe um tratamento menos simpático da parte do autor?
É uma caricatura do jornalista actual?
Não me diga que nunca encontrou nenhuma
Eduarda Galvão... [risos]. A Eduarda é a personagem
central, talvez a mais importante do romance. De certo modo,
ela desencadeia todas as ligações entre as outras
personagens. Quis mostrar que há uma certa forma de
fazer jornalismo, mais comum agora entre os jovens jornalistas
- destituídos de escrúpulos, com um conhecimento
básico das coisas, que se integram no pensamento único,
na formatação dos pensamentos, utilizando o
lugar-comum, a frivolidade, a artificialidade...
Já se cruzou com muitas Eduardas Galvão
ao longo do seu percurso?
Sim, sim. Sobretudo nos últimos tempos.
Há um tipo social muito utilizado em literatura, que
se chama "o Videirinho" e que se refere à
pessoa que é capaz de fazer tudo para manter as aparências
e subir na vida, com uma ambição completamente
desmedida, renunciando a qualquer tipo de ética ou
de escrúpulos. Eduarda encaixa-se nesse tipo social.
E, se pensar bem e olhar em volta, encontra facilmente em
vários órgãos de comunicação
social uma "pardalada" muito semelhante à
Eduarda Galvão, pessoas que não desistem, tão
determinadas como ela. Mas nem todos os jornalistas são
assim, convém não generalizar. Eduarda é
jornalista, mas podia ter uma outra profissão qualquer,
podia ser apresentadora de programas, ou qualquer coisa assim.
Até podia ter a mais velha profissão do mundo,
se calhar... [risos]. Aliás, não anda muito
longe disso.
Há outra personagem, Vera Quitério,
que desempenha igualmente um papel fundamental no romance,
pronunciando a frase que dá título ao livro.
Parece-me que é a única personagem que escapa
à ironia da sua escrita, emergindo como uma espécie
de representante da pureza da militância comunista.
Porquê?
Ela é um pouco ingénua, com aquela
maneira de ser, aquela beatice partidária... Prezo
muito a vida daquelas pessoas que são como ela, e não
tanto aquelas que são mediaticamente conhecidas. Como
sabe, estive preso, enfim, estive em "palpos de aranha",
para utilizar a expressão popular. Mas era um estudante
de classe média, tinha o apoio dos familiares, pouco
me podia acontecer, mais tarde tudo se recuperava. Contudo,
havia pessoas que não tinham rede, que viviam do seu
trabalho, que faziam sacrifícios: gente como Vera Quitério,
que passou uma vida infernal, de terra em terra, sempre com
medo, gente que jogava o seu pão.
Talvez nessa personagem o humor não
esteja tão presente...
Quer dizer... a Vera Quitério é engraçada.
É um bocado insuportável, com aquela mania de
fazer festinhas às pessoas, com aquela maneira de ver
o mundo, fechada. Isto porque a clandestinidade também
acabou por fechar as pessoas, teve efeitos na própria
percepção do mundo. Há qualquer coisa
de estranho naquela mulher, não há? O facto
de se sentir um pouco como a padroeira, a mãe protectora
dos outros, aquelas falas mansas, aquela maneira de acreditar
no futuro e nos outros. Tudo isso me parece um pouco patético
também.
O título do livro - "Era Bom que
Trocássemos Umas Ideias sobre o Assunto" - é
um bordão do discurso que, como explica, sofreu várias
evoluções até chegar a essa forma. Mas
não será que ultrapassa o carácter de
bordão de discurso, para adquirir o espírito
de uma certa benevolência?
Sabe que eu copiei isso... Ouvi a frase na
televisão, de um militante comunista, que de vez em
quando dizia: era bom que trocássemos umas ideias sobre
o assunto... Aproveitei a expressão e mais tarde escrevi-lhe
a pedir desculpa pelo facto.
Mas queria exprimir com o título essa
tal benevolência?
Queria dizer que o assunto não estava esgotado e que
a discussão continuava... Lá está, aqueles
tiques de linguagem, que se utilizam muito no Partido Comunista.
O PCP tem a sua linguagem própria, tem a sua tradição
linguística, o seu sociolecto. Quando estamos de fora,
até ficamos um bocado chocados, porque as pessoas se
tratam de maneira diferente, com um tipo de linguagem e de
clichés que são próprios daquela casa.
Como se de um microcosmos de linguagem se tratasse...
Sim. Mas isso não é uma virtude do Partido Comunista,
porque isso fecha-o, enquista-o. E é uma forma de o
diferenciar dos outros partidos.
Mas acaba também por funcionar...
... como um factor de agregação e de reconhecimento,
exactamente. E de identificação.
E como uma espécie de abrigo, um sítio
onde ninguém faz mal a ninguém.
Pois. Isso funcionava assim na altura em que
o livro foi escrito.
E agora?
Não, mas...
Como é que vê as polémicas recentes?
Estamos aqui a conversar sobre o livro, não gostava
de falar sobre isso.
E sobre o que é ser comunista hoje?
Talvez já lhe tenham feito esta pergunta pelo menos
400 vezes, assim como, como refere no livro, todos os comunistas
do mundo já fizeram essa questão na vida...
Qual foi a resposta que deu o Vitorino [uma
das personagens do livro, militante comunista]?
"É pá, tem calma, pá!"
Ah, é isso [risos]!
E não tem nada a acrescentar?
Ligar a fábula do livro à história do
Partido parece-me um bocadinho redutor, porque me parece que
o livro é mais que isso. De qualquer forma, há
uma série de coisas que eu não quero estragar.
E eu preferia que continuassem como eram dantes, não
sei se continuam assim. Porque isso permite-me guardar os
meus afectos intactos e não gostava de os ver destruídos.
O Partido tem que ver com a minha vida e com o melhor de mim.
Há fios de ternura que ainda estão intactos.
Prezo muito a amizade e a solidariedade que se praticavam
e que identificavam, de certa forma, os militantes do Partido.
E isso não era falso, nem hipócrita.
E era por isso que a personagem Joel Strosse
tinha tanta vontade de aderir ao Partido...
Sim, era uma forma de obter reconhecimento
e uma forma de o ouvirem. As pessoas precisam que as ouçam.
Não falo por mim: sou pouco comunicativo, sou rápido
a ouvir, não sou de conversas. Mas as pessoas precisam
de conversar, de contar, de saber que alguém as ouve.
Não se sabe grande coisa sobre a vida do Joel, por
que caminhos terá andado: mas sabe-se que era um infeliz,
tudo lhe corria mal. Daí que tenha criado a ideia de
um partido um bocado fantástico...
Uma utopia?
Sim, se quiser, um lugar que não existe. Para ele,
era um pouco isso, como a ilha da Cocanha.
Achei interessante a forma como capta algumas
expressões, tiques ou alguns modos de ser das personagens.
Como é que consegue fazer isso? Regista de memória,
escreve num papel?
Por exemplo, ia no autocarro e alguém
disse: "Sim, porque ele é meu superior 'anárquico',
ouviste?". Ou: "esperar que a polícia tirasse
as impressões 'vegetais'". Estou naturalmente
atento a estas coisas. Não escrevo nada. No momento
oportuno, elas surgem do sítio onde estão guardadas,
tal como estão, ou transformadas. Em tempos, conheci
um rapaz, amante de ópera, que tinha um periquito que
andava pela casa, à solta, e que debicava as pautas
de música, deixava vestígios, enfim. E falava.
No livro, há um periquito: ele é uma reminiscência
do tal periquito que eu encontrei na minha juventude em casa
do tal rapaz. Portanto, há acontecimentos que vou guardando
e depois aproveito. São materiais para a composição.
Tal como as personagens: elas também são compostas.
É o chamado efeito de personagem.
Quando escreve, escreve para alguém
em particular, para algum leitor-tipo?
Não estou preocupado com as audiências,
não me interessa saber se o livro vai ter mil ou 200
mil leitores. Agora, a literatura é, por natureza,
transitiva, no sentido em que estabelecemos sempre através
do texto uma relação com o outro, com o receptor.
Podia escrever numa língua inventada, aliás,
isso já foi feito. Mas não escrevo assim, escrevo
em língua portuguesa, para que as situações
e as personagens que concebo sejam entendidas. E mais: que
sejam completadas. Umberto Eco escreveu que "o texto
é uma máquina preguiçosa", ou seja,
alguém do outro lado tem de fazer alguma coisa, de
reconstruir. Costuma dizer-se que os textos para teatro e
para cinema são textos esburacados, porque é
necessário que tudo aquilo que está à
volta seja composto.
Mas no próprio texto literário,
em que há muito mais liberdade da parte do autor, também
há interstícios que têm de ser preenchidos.
Tem que existir a possibilidade de o leitor conseguir fazer
alguma coisa com o nosso texto, reescrevê-lo, reinventar
personagens. Por exemplo, seguramente que a sua Eduarda Galvão
não é a mesma que a minha, porque lhe deu um
rosto, uma aparência, uma altura diferentes. Voltando
atrás, escrevo para um leitor que me compreenda. É
evidente que não encontrarei isso em pessoas que se
interessam exclusivamente por revistas cor-de-rosa ou por
futebol, porque não têm os materiais nem a experiência
de vida suficientes para conseguir este efeito. Mas penso
que o chamado leitor modelo, isto é, as pessoas que
lêem livros, os destinatários desta colecção
do PÚBLICO estão em condições
de reconstruir o texto. O texto deste livro tem sempre fios,
está cheio de citações, tem reproduções
de outros textos, enfim, tem muito intertexto. Pode ser interessante
para o leitor reconhecer esse jogo, a forma como se lida com
a tradição literária.
Há, de facto, várias referências
a outros autores e a outros textos. Tem algum escritor de
eleição?
Isso varia um pouco com as horas do dia, com
os momentos...
Neste momento, o que está a ler?
A última coisa que li foi teatro, uma tragédia
de Vittorio Alfieri [dramaturgo italiano], "Filipe II".
E está a escrever alguma coisa?
Ando há longos anos com um romance, não sei
se hei-de dizer ao colo se às costas. Ando a escrevê-lo,
o que significa mudar imensos princípios, situações,
encontrar imensos desenvolvimentos divergentes... as personagens
vão mudando, os homens tornam-se mulheres, os jovens
tornam-se velhos. Preciso de encontrar ligações
entre as personagens, tenho consciência de que algumas
delas ainda não existem, as coisas precisam de ser
apuradas. Este livro é subsidiado e eu cumpri: ao fim
de um ano, entreguei 157 páginas, que era o que tinha
prometido. Simplesmente, isso não me obrigava a publicá-lo,
porque não é ainda o livro que eu quero. Entretanto,
vão-se metendo outras coisas, filmes, peças
de teatro, derivações, que vão dando
oportunidade a que, por debaixo disso, o romance se vá
construindo.
De entre os livros que escreveu, tem algum
preferido?
"O Livro Grande de Tebas Navio e Mariana" (1982)
é um deles: todo o meu programa de escrita está
lá. Tudo o que escrevi depois parte desse livro, seja
teatro, cinema, ficção ou conto. Como se fosse
uma irradiação, que, ao mesmo tempo que alimenta,
limita também. Há ainda outro livro do qual
gosto muito, que é "Um Deus Passeando pela Brisa
da Tarde", que se passa no tempo do império romano,
na Lusitânia romana. De certo modo, eu até posso
quase dizer que escrevi "Era Bom..." para fazer
um contraponto em relação ao outro, porque já
estava tão farto de antiguidade, de acumular coisas
e de pensar aquele período de Marco Aurélio,
que decidi passar para outro registo. E então apareceu
"Era Bom...".
De certa forma, passou do passado para o presente...
Sim, sim. Passei para o presente e para outro registo de escrita,
bem diferente do tom solene, mais ou menos copiado da música
dos textos latinos. Este tem uma linguagem mais dos nossos
dias, embora com reminiscências do romantismo, sobretudo
no papel do narrador, que continuamente se dirige ao leitor.
O que pensa de Álvaro Cunhal como autor?
Tive a oportunidade de o entrevistar há uns anos. Sou
um curioso, às vezes não resisto às propostas
que me são feitas. E a revista "Visão"
propôs-me fazer-lhe uma entrevista a propósito
do livro "Cinco Dias, Cinco Noites", que tinha sido
reeditado naquela altura, quando foi estreado o filme homónimo
de Fonseca e Costa. A entrevista correu muito bem. Álvaro
Cunhal tem um enorme controlo do discurso, que eu aliás
já conhecia.
E como escritor?
Gostei muito desse livro. Uma coisa que me impressionou foi
a grande singeleza da sua linguagem e a sucessão de
elementos plásticos - a luz, a sombra, a cor e o cinzento.
Pareceu-me que ele dominava isso com muita mestria. Acho que
é um bom conto do neo-realismo português.
Sabia que Álvaro Cunhal tinha traduzido
o "Rei Lear", de Shakespeare, como se veio a descobrir
recentemente?
Não, soube há dias. Tenho uma
tradução portuguesa, mas é muito antiga,
dos anos 30. Lerei com todo o gosto a tradução
dele e confrontá-la-ei com a tradução
que tenho. Agora, se bem me lembro, na entrevista que lhe
fiz, curiosamente, ele falou muito de Shakespeare, com grande
entusiasmo. Ele conhecia os textos profundamente, quase como
se os tivesse lido na véspera. Mas não me disse
que tinha traduzido o "Rei Lear".

|