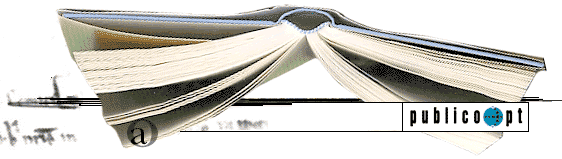| “O Crime do Padre Amaro”
Um romance dum deus
Por Carlos Câmara Leme
Obra-prima da literatura portuguesa, extraordinária
sinfonia de sentidos sobre o amor e o desejo — mas também
a sua impossibilidade —,“O Crime do Padre Amaro”
dá-nos a conhecer uma sociedade hipócrita. Estávamos
em finais do século XIX. Hoje ainda dá que pensar.
E lê-lo é um imenso prazer.
Numa longínqua manhã de um Julho
quente, corria o ano 1870, José Maria Eça de
Queirós saía de uma diligência e punha
pela primeira vez os pés em Leiria, para tomar posse
enquanto administrador do concelho. Nas malas literárias,
uma viagem ao Oriente, a experiência decisiva para a
sua carreira posterior, a de jornalista no “Districto
de Évora”, e a partilha, com Ramalho Ortigão,
de “O Mistério da Estrada de Sintra”.
O burgo contava, então, com cerca de
quatro mil habitantes. O jovem bacharel por Coimbra acabara
de fazer 25 anos. Aborrecido, pinta as primeiras impressões
da cidade e das suas gentes: “Imaginem-me aqui nesta
terra melancólica, só, sem um livro, sem um
dito, sem uma conversa, sem um paradoxo, sem uma teoria, sem
um satanismo — estiolado, magro, cercado de regedores
e devorado de candidatos.” Cruel, rosna: “Respondo
a esta gente com monossílabos ferozes.”
Muito embora Oliveira Martins tenha confessado
(com algum exagero), já depois da morte do romancista
em 1900, que “O Crime do Padre Amaro” teria sido
o “único romance que Eça trouxera no ventre,
e tudo o mais eram trabalhos de humorismo”, as circunstâncias
que teriam levado a escrever “O Crime...” ainda
hoje se encontram envolvidas num mistério. Em boa verdade,
em vários.
Assassinar o crime
O “Jornal de Leiria”, na sua edição
de 19 de Outubro de 2000, com base numa confidência
do cónego Galamba de Oliveira, entretanto já
falecido, escrevia que o livro terá nascido de uma
irritação de Eça, confrontado que foi
com comentários menos felizes do pároco da Sé
a um poema seu declamado num serão na pensão
de D. Isabel Jordão, situado na R. da Tipografia, 13,
onde se instalara. Como um azar nunca vem só, numa
segunda estada em Leiria, Eça será apanhado
com a boca na botija quando, num Carnaval, mascarado de cupido
com asas de cambraia, é corrido a pontapé pelos
criados do barão de Salgueiro depois de ter sido encontrado
em flagrante delito com a mulher do barão. Nem mais:
uma cena real que, curiosamente, Eça reconstituirá
em “Os Maias”, no saboroso episódio entre
João da Ega e a Gouvarinho. 1874. Eça de Queirós
chega a Newcastle a 31 de Dezembro. Aos mistérios de
Leiria junta-se mais um: em que data o romancista começa
a conceber “O Crime do Padre Amaro”. Vive meses
de ansiedade. Numa missiva a Batalha Reis, escreve: “O
Padre Amaro não pode ir matar o filho para a rua, à
luz pública.” Mais: “Se ele não
puder cometer a sua patifaria em letra de imprensa, então
quero que ele esteja aqui ao meu lado, na gaveta, matando
sossegadamente — seu filho — e portanto meu neto.”
Conscientemente, o romancista sabia que tinha entre mãos
um bico de obra — de resto, “O Crime...”
inscrevia-se num projecto mais vasto do romancista, o de gizar
uma viagem “às cenas da vida portuguesa”
ou “da vida real”.
Eça vai directo ao assunto, num “zoom”
cinematográfico extraordinário. O pároco
José Miguéis, alcunhado com ironia pelo escritor
como o “comilão dos comilões”, morria
de apoplexia num Domingo de Páscoa. Dois meses depois,
Leiria sabia o nome do seu substituto: Amaro Vieira, atribuindo-se
a sua escolha a “influências políticas”.
À segunda página do romance estamos no centro
de uma das denúncias que Eça vai plasmar ao
longo do livro, a corrupção política
e o conluio entre a igreja e os poderes estabelecidos: “‘A
Voz do Distrito’, que estava na oposição,
falou com amargura, citando o Gólgota, no ‘favoritismo
da corte’ e na ‘reacção clerical’.”
Amaro, descreve o narrador, era um “belo
rapagão”. De todo o clero, só o cónego
Dias sabia da sua existência, pois tinha sido seu professor
no seminário. “Espertote”, clarificou o
cónego. Eça não perde tempo. Revela que
“o facto mais saliente da vida” do cónego
“era a sua antiga amizade com a sra. Augusta Caminha,
a quem chamavam a S. Joaneira, por ser natural de S. João
da Foz. A S. Joaneira morava na Rua da Misericórdia
e recebia hóspedes. Tinha uma filha, a Ameliazinha,
rapariga de vinte e três anos, bonita, forte, muito
desejada.”
Só falta, para completar o cenário,
um pequeno detalhe — para onde iria viver Amaro, que
só pedia uma casa barata, situada q.b., mobilada e,
obviamente, respeitável. A “soberba ideia”
do cónego Dias é a de instalar o putativo pároco
na casa da S. Joaneira. O primeiro lance do crime está
dado. Em alguns capítulos, Eça traça
num “flash back” de forte carga erótica
o percurso de Amaro, educado no seio — em sentido figurado
e literal — de mulheres. Volta, de novo, a Leiria e
o jogo do desejo Amaro-Amélia começa a ganhar
formas. Ela não dormia, ele também não:
fumava excitado e olhava a lua. Os olhares cruzam-se, os silêncios
dizem tudo (ou quase). Amaro, quando descobre os amores do
seu mestre com S. Joaneira, desabafa: “Todos são
do mesmo barro.” Ela, pela voz do narrador, passava
noites “sacudidas de sonhos lúbricos” e,
quando se jogava o “quino”, os joelhos dos dois
“ficavam sempre juntos”. “E ambos vermelhos,
permaneciam vagamente entorpecidos no mesmo desejo intenso.”
Quando o crime (?) se dá, o ambiente
está dado. Não falta nada: os críticos
liberais e anticlericais, a denúncia pela verve de
João Eduardo no Comunicado que põe o clero em
alvoroço e toda a “santa” e hipócrita
Leiria. De repente, como no início do romance, Amélia
fica grávida. Os sonhos transformam-se em pesadelos.
Penosos. Amaro e Amélia ficam prisioneiros do amor
e do pecado. O pároco começa, então,
a engendrar a fuga. A ela não lhe resta senão
esperar. Amaro chega a rezar para que a mãe e o filho
morram. O que acontece. O padre sai por cima. Em Lisboa, já
no final do livro, Eça volta a colocar frente a frente
Amaro e o cónego Dias. O Chiado chorava lágrimas
de crocodilo pela insurreição que se vivia em
Paris. Que importa! Amaro, quando o mestre lhe chama a atenção
de duas mulheres que passeiam no Loreto, remata: “Já
lá vai o tempo, padre-mestre, disse o pároco,
rindo, já as não confesso senão casadas.”
Com ambígua e sarcaz ironia —
que percorre toda a sua obra a que voltamos sempre —,
Eça vê-os e desfere a sua última estocada:
o conde de Ribamar, o homem de Estado, e os dois religiosos
junto à estátua de Camões, “gozavam
de cabeça alta esta certeza gloriosa da grandeza do
seu país — ali ao pé daquele pedestal,
sob o frio olhar do velho poeta, erecto e nobre, com os seus
largos ombros de cavaleiro forte, a epopeia sobre o coração,
a espada firme, cercado de cronistas e dos poetas heróicos
da antiga pátria — pátria para sempre
passada, memória quase perdida”. Eça,
feroz, dá outro golpe de mestre: sendo a fé
a base da ordem, como exclama o conde, não admira que
Portugal seja a inveja da Europa: “Vejam toda esta paz,
esta prosperidade, este contentamento...”
Miguel Torga, com razão e intuição,
no primeiro volume do seu “Diário”, em
1939, escreveu: “À noite (três da manhã)
um passeio pelos becos da cidade. A Sé, a botica do
Carlos, a rua da Misericórdia, a casa da Sanjoaneira.
Grande Eça! Arrancar desta terra um tal romance, parece
obra dum deus!” Ainda hoje, as palavras de Torga mantêm-se
vivas. Como as de Eça. O romance aí está.
Para celebrar a Colecção Mil Folhas. E, sobretudo,
a literatura. Das maiores que se escreveram em Portugal.

|