Os concertos estão a destruir os nossos ouvidos?
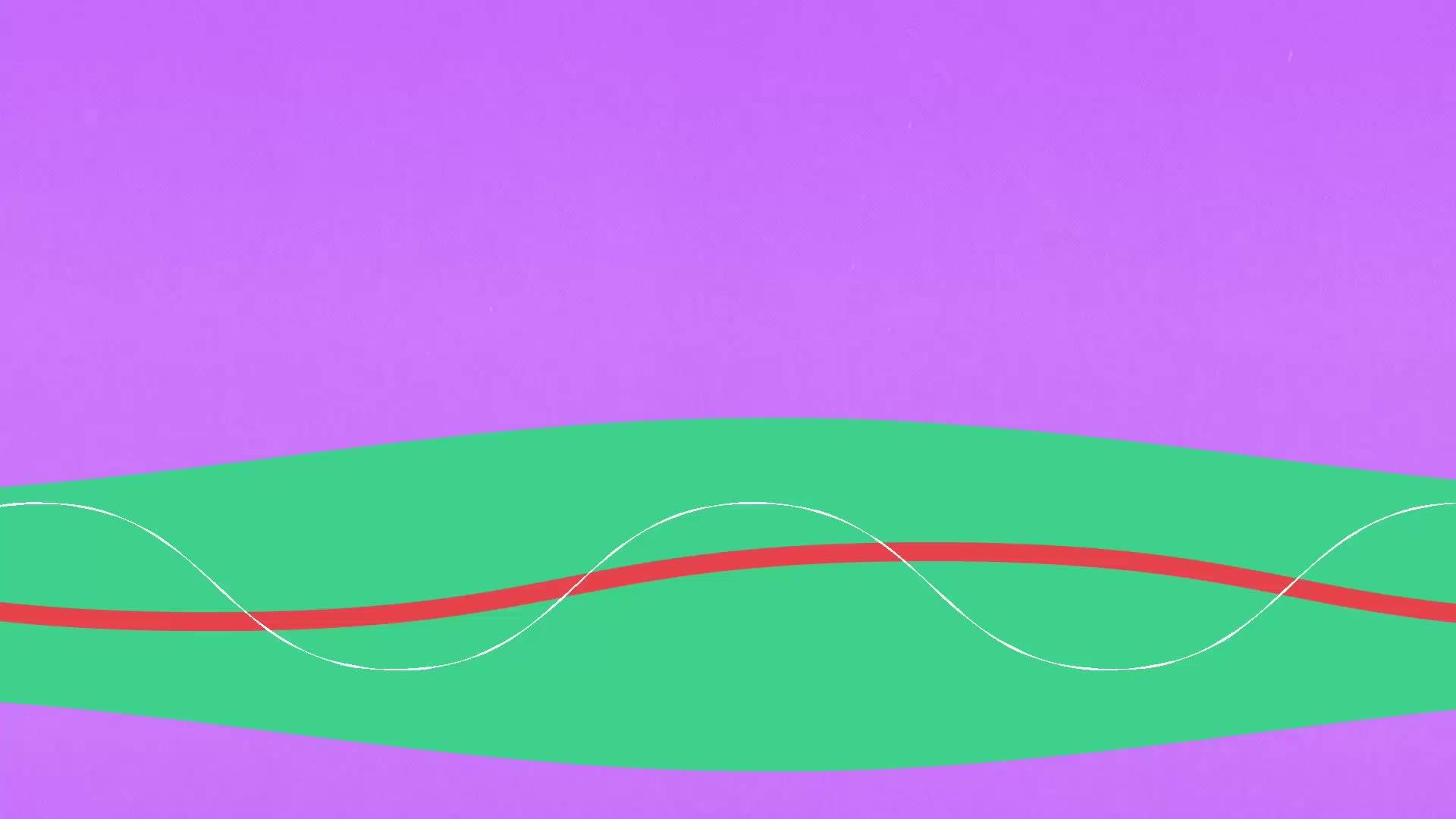
Daniel Dias (texto), Tiago Bernardo Lopes (vídeo) e Gabriela Pedro (infografia e ilustração)
2 de Agosto de 2024
A música alta pode saber bem, mas tem um preço. Músicos, DJ e técnicos dizem que está instalada em Portugal uma “cultura de não protecção”. Um bom par de tampões auditivos pode ser o nosso melhor amigo num concerto.

Ligamos a José Salgueiro à hora a que havíamos combinado ter uma pequena conversa sobre música ao vivo e saúde auditiva. O músico não atende. Devolver-nos-á a chamada cerca de 20 minutos mais tarde. Após o pedido de desculpas, a explicação: “Como não ouço muito bem, não ouvi o telefone a tocar…”
Nascido em 1960, Salgueiro é um baterista rodado. Trovante, Gaiteiros de Lisboa, Resistência e Lokomotiv são alguns dos múltiplos projectos em que já esteve ou continua envolvido. O desgaste auditivo explica-se pelo avançar da idade, por um lado, mas também, obviamente, pela profissão. É sabido que a bateria, com a intensidade da tarola e dos pratos, é um instrumento exigente. A realidade de José Salgueiro não é muito diferente da de um Dave Grohl. O músico cujas baquetas furiosas já ouvimos em discos de Nirvana, Queens of the Stone Age e Them Crooked Vultures — e que além disso, claro, lidera há já 30 anos os Foo Fighters — contou em 2022 ao radialista Howard Stern que, no início da pandemia, apercebeu-se de que passara “os últimos 20 anos a ler lábios”.
A DJ Catarina Silva é bastante mais nova do que José Salgueiro, mas nem por isso tem a audição intacta. Conta ao Ípsilon que, nas suas primeiras noites de clubbing, “com o entusiasmo”, passava música com o volume “muito alto”. “Também estava a aumentar cada vez mais o volume nos meus auscultadores. Até que um dia tive um b2b [back-to-back, ou um DJ set colaborativo] com um amigo. Estávamos a usar à vez os mesmos auscultadores. A dada altura, ele disse-me: ‘Catarina, tu pões o volume mesmo alto, estás surda!’”
Esse momento, ocorrido há mais de um ano, foi uma chamada de atenção, o ponto a partir do qual Catarina começou a ter mais cuidado. Entretanto, a jovem ficou a saber, numa consulta de medicina de trabalho, que já tem um pouco de perda auditiva no ouvido direito, aquele que usa para ouvir nos auscultadores o que está a fazer durante um set (é comum os DJ usarem apenas um dos dois dispositivos de escuta dos seus headphones).
José Salgueiro e Catarina Silva partilham uma assumida falta de grandes preocupações com a audição, pelo menos durante uma certa fase da vida ou até um dado ponto. Não são os únicos. Durante muito tempo, em muitos círculos distintos, não se deu importância ao assunto. Mas as histórias de músicos conhecidos cuja audição se encontra bastante afectada somam-se e a consciencialização para a importância de tomar atitudes preventivas vai crescendo. Quer entre profissionais do sector, quer entre os públicos.
Uma das atitudes que um fã de música pode tomar, talvez a mais importante, é usar tampões auditivos (earplugs, o termo em inglês que muitos usam) em concertos. Há países onde utilizá-los já se tornou mais ou menos comum. Portugal não é ainda um deles. Músicos, técnicos de som e responsáveis por salas de espectáculos confirmam-no ao Ípsilon.
Catarina Silva diz, sem grandes hesitações, que não costuma ver muita gente a usar tampões nas discotecas onde faz os seus DJ sets (ela própria, por vezes, esquece-se dos seus em casa, quando frequenta noites de clubbing na condição de espectadora). Fernando Ribeiro, vocalista dos Moonspell, também não vê no público nacional (ao contrário do suíço, por exemplo) uma audiência particularmente adepta de tampões auditivos.
Na Alemanha, onde a banda de metal portuguesa actua com frequência, a legislação obriga os promotores de eventos que atinjam ou superem uma intensidade sonora de 95 dBA a oferecer tampões aos espectadores (dB é o símbolo do decibel, unidade de medida da intensidade sonora; dBA são “decibéis com a escala de pressão acústica ajustada para se adequar” à forma como o ouvido humano ouve e se relaciona com as diferentes frequências sonoras, sintetiza a Agência Europeia do Ambiente). Houve já alguns concertos em solo português em que os Moonspell também disponibilizaram tampões à entrada. Só que não foram aproveitados. “Para aí 90% deles ficaram na mesa. Ainda por cima eram grátis.”


Simulação realizada pelo PÚBLICO com meros efeitos demonstrativos: isto é apenas uma aproximação à experiência real de usar tampões.
O músico não acredita muito na possibilidade de Portugal se habituar aos tampões num futuro mais ou menos próximo. “Desejo a todos nós boa sorte para enfrentar a cultura instalada da não protecção. Ainda não paramos na passadeira e também foi difícil começarmos a usar cintos. São regras que nos protegem e que desbaratamos.”
“Não quero, daqui a dois anos, não conseguir ouvir música”
É claro que há excepções. Tânia Pereira, bióloga marinha, não vacila. Costuma ir a dois ou três concertos de música dita extrema por semana. A protecção, frisa, é vital. “Não quero, daqui a dois anos, não conseguir ouvir música.”
Conhecemos Tânia e o seu círculo de amigos — todos fãs de tampões, como ela — pouco antes do início de uma noite de grind/death metal no Barracuda, no Porto. O seu exemplo surpreendeu até “Rodas”, dono desse clube nocturno dedicado ao rock e adjacentes. Tínhamos-lhe telefonado dias antes para perguntar se podíamos, no âmbito deste trabalho, ir aos concertos acolhidos pelo bar no dia 28 de Maio — tocaram as bandas norte-americanas Mephitic Corpse e Necropsy Odor e os bracarenses Morto. “Rodas” respondeu mais ou menos da seguinte forma: “Podem vir à vontade, mas boa sorte a encontrar malta com earplugs. Se encontrarem, provavelmente serão só estrangeiros.”
Também à porta do Barracuda estão Paulo e Pedro, de 25 e 26 anos, respectivamente. Estão com mais amigos, que conversam enquanto sai das colunas de um telemóvel uma música com gritos viscerais e guitarras armadas até aos dentes com distorção.
Paulo e Pedro não vão tocar naquela noite, embora estejam juntos em duas bandas diferentes (uma de death metal e outra de hardcore punk). Só usam protecção auditiva em ensaio (Pedro por vezes, Paulo sempre). Quando sobem ao palco, não utilizam tampões (muitos músicos sentem que os tampões cortam sons que precisam de ouvir para se guiarem) nem in-ears (monitores intra-auriculares que permitem aos músicos ouvir uma mistura do concerto feita especificamente para si, a um volume que conseguem controlar). “Não gosto, sinto que abafam o caos e a confusão do concerto”, diz Pedro.
E quando são espectadores? Pedro costuma estar desprotegido. Já Paulo muda de modus operandi consoante a ocasião. “Se for uma banda que quero mesmo ver, se quiser ter a experiência do som na totalidade, não costumo usar”, comenta, acrescentando que normalmente usa protecção em concertos a que vai de forma algo menos investida.
Ambos os jovens têm já alguns sintomas de perda auditiva. “Por vezes, há coisas que me escapam no escritório, onde é preciso falar mais baixo”, diz Paulo. Isso dá que reflectir, admite. “Tenho pensado sobre começar a usar tampões mesmo quando são bandas que quero muito ver.”
A música alta é como
“um shot duplo de whisky”
Todos sabemos que a música, quando apreciada a um volume significativo, acarreta os seus riscos. Porque é que tantas vezes ignoramos os avisos que zelam pelo nosso bem-estar? O investigador independente Barry Blesser sente que poucos profissionais de saúde fazem “a pergunta relevante”: “Porque é que as pessoas escolhem ouvir música a volumes elevados?”
Num artigo de 2007 intitulado “O apelo sedutor (mas destrutivo) da música alta”, Blesser escreve que “a música é um estimulante, tal como a cafeína, o açúcar, o álcool, a raiva, o exercício físico vigoroso, a actividade sexual e muitos outros”. Música alta, diz, é pura e simplesmente “um estimulante mais eficaz do que música baixa”. É como “um shot duplo de whisky”: “eleva a intensidade da experiência”.
O investigador acrescenta que, “como qualquer droga”, a música alta pode ser “muito destrutiva” se consumida em doses elevadas. O problema é que, ao contrário daquilo que tende a acontecer com as “drogas habituais”, costumam ser necessários anos de abuso até os danos se fazerem notar. Talvez essa, reflecte Blesser, seja a principal razão pela qual as pessoas ignoram os avisos relacionados com o volume, da mesma forma que as crianças por vezes ignoram a recomendação da mãe para escovar os dentes de modo a evitar problemas de saúde oral futuros: “Para a maior parte das pessoas, o futuro é demasiado hipotético e remoto para ser levado a sério.”

Depois de chegar ao pavilhão da orelha, o som é encaminhado para a membrana timpânica, que vibra em resposta às ondas sonoras. Esta vibração desencadeia outras: primeiro os ossículos do ouvido médio (o martelo, a bigorna e o estribo), depois a cóclea (conhecida também como caracol), no ouvido interno. É lá que as vibrações são convertidas em sinal eléctrico, sinal esse que depois é transportado pelo nervo auditivo para o cérebro, onde ocorre a descodificação do som.

No rock do início dos anos 1970, ser a banda mais ruidosa era motivo de orgulho. Em 1972, os Deep Purple, que viviam o seu pico criativo (foi o ano de Machine Head), entraram no Guinness: chegaram aos 117 dB num concerto em Londres — uma brutalidade tal que três elementos do público chegaram a perder a consciência.
Foram superados quatro anos depois pelos The Who, que, também na capital inglesa, atingiram os 126 dB (só para ter um termo de comparação, o ruído produzido por uma máquina perfuradora do solo ronda os 130 dB, segundo a Organização Mundial da Saúde). A banda gostava de destruir o seu equipamento no final dos seus concertos. Em 1967, numa aparição televisiva que entraria para a história, o baterista Keith Moon rebentou com o seu bombo, que enchera de quantidades proibitivas de pólvora: a audição do guitarrista Pete Townshend nunca mais foi a mesma depois desse incidente.

Anos mais tarde, vieram os My Bloody Valentine, pioneiros do shoegaze — género musical cuja principal característica assenta na construção de uma “muralha de som”. No estúdio, Kevin Shields, o principal visionário do grupo, punia os ouvidos, gravando as suas guitarras colado aos amplificadores. Ao vivo, o volume, via para atingir a catarse, também é enorme. “Se quer ouvir música a ser tocada baixinho, é para isso que servem as aparelhagens”, dizia Shields ao The Guardian em 2013, num artigo em que o jornal inglês recordava um concerto no final de 1991 em que a intensidade dos My Bloody Valentine foi tão implacável que um elemento do público perdeu o controlo dos seus intestinos.
De decibelímetro na mão
Decidimos levar um decibelímetro (um medidor de decibéis) para o primeiro concerto de grind/death metal no Barracuda. A partir do fundo da sala, que não fica a uma distância enorme do palco — o espaço é pequeno —, vimo-lo a dançar entre os 92 e os 107 dB. Por norma, o volume de um concerto ou de um DJ set oscila entre os 90 e os 120 dB. Repetimos durante alguns minutos a brincadeira (foi muito mais uma brincadeira, ou um exercício curioso, do que uma “experiência”, no sentido científico do termo) no final da semana seguinte, no concerto de Legendary Tigerman no Primavera Sound Porto. Aí, a distância do palco era bastante superior (estávamos alguns passos atrás da régie, no palco principal de um festival de grandes dimensões). Os valores medidos foram mais ou menos similares, com picos algo maiores (108 dB, por vezes, ou 110 dB, mais infrequentemente). Não choca: o arsenal de colunas é muito maior no Primavera do que o do Barracuda.
Barracuda
Primavera Sound
Filipe Silva, técnico de som há 20 anos e director técnico do Capitólio e do Teatro Variedades, em Lisboa, é da opinião de que, “independentemente do estilo musical, os concertos costumam ser demasiado altos”. “Privilegia-se a força em detrimento da qualidade sonora”, considera, referindo que, por vezes, “é o próprio público a exigir, quase, que o som esteja exagerado”. “Já tive situações em que me disseram para aumentar o volume quando, para mim, já estava alto.”
Volume alto é coisa que dificilmente se verifica nos concertos de Éme e Moxila, ou João Marcelo e Mariana Pita. A dupla da Cafetra, pequena editora à qual está também ligada Maria Reis, de Pega Monstro, costumava fazer-se acompanhar, ao vivo, por Júlia Reis, irmã de Maria e baterista de Pega, até que esta se distanciou ligeiramente (mas não totalmente) da música. A partir desse ponto, Éme e Moxila abriram mão da bateria, trocando-a por “percussões mais leves”. “Gostávamos especificamente de tocar com a Júlia, não necessariamente do instrumento bateria.”
Moxila tem alguma dificuldade a lidar com intensidades sonoras elevadas. “Nos concertos, começa o teste de som e, passado um bocado, já tenho os ouvidos entupidos”, conta-nos (vale a pena referir que a música da dupla nem é sequer particularmente ruidosa, situando-se algures entre a folk de estirpe indie e a música popular portuguesa, por exemplo). “Acho que a ideia por detrás do volume alto nos concertos é, em parte, os músicos não ouvirem as conversas do público caso haja alguém a falar. Mas o volume padrão é altíssimo para nós”, assinala Éme. “Às vezes, a música que passa antes do concerto está mais alta do que a música que tocamos”, acrescenta, entre risos.
“As pessoas normalizaram o facto de estarem sempre rodeadas de muito barulho”, considera Evaya, nome artístico de Beatriz Bronze, jovem que lançou este ano o seu primeiro disco, Abaixo das Raízes Deste Jardim. Por vezes, a artista, que opera entre a pop e a electrónica, sente desconforto nos seus próprios concertos, o que leva a pedidos para os técnicos baixarem um pouco o volume. “Sinto que ainda há muito a ideia de que se está alto está bom”, reflecte a artista, que começou a usar tampões em todos os concertos a que assiste há três anos. “Foi quando o grupo de amigos começou a ser principalmente feito de músicos”, também eles preocupados com a saúde auditiva.
Evaya acredita que é possível “reverter a cultura do concerto muito alto”. “Os próprios músicos podem tomar uma posição e dizer, por vezes, que não é preciso estar tão alto. É óbvio que eu quero que as coisas soem altas. Mas em primeiro lugar quero que soem confortáveis.”
Há tampões e tampões
Aos poucos, vamos aprendendo a olhar para os tampões como uma coisa normal. Vivemos numa época em que existe algo tão improvável e incrível como o músico Kurt Vile a encontrar no seu uso de tampões, peças vitais para tentar travar a pioria dos seus zumbidos, tema de canção (“When I was young I liked to hear music blarin’ and I wasn’t carin’ to neuter my jams with earplugs/ but these days I inhabitate a high-pitched ring over things, so these days I plug ‘em up”, cantava em 2017 na doce Over everything, do seu disco colaborativo com Courtney Barnett, Lotta Sea Lice).
“Há concertos que efectivamente têm de ser vividos daquela forma [com uma intensidade acrescida]. Agora, não podes estar numa primeira fila sem protecção. És tolinho se achas que vais escapar dali incólume.” As palavras são de Vera Marmelo, que fotografa concertos há duas décadas. Os earplugs são a coisa que tem mais à mão na mala. “São tão importantes para mim como a bateria da câmara ou os cartões de memória.”
Vera começou a proteger-se em 2016, nos dias em que acompanhou pela primeira vez o Amplifest, festival portuense dedicado a sonoridades mais pesadas (no seu site, o evento organizado pela promotora Amplificasom não deixa de tentar sensibilizar os espectadores, recomendando-os a utilizar tampões). Hoje, usa earplugs em todos os concertos a que vai, mesmo aqueles em que a música é mais calma. “Não consigo evitar a proximidade das colunas”, afirma, partilhando que fica algo arrepiada quando vê, em noites de clubbing, pessoas sem protecção auditiva e “literalmente encostadas a colunas mais altas” do que elas próprias.
A fotógrafa acredita que qualquer pessoa que veja o filme Sound of Metal (2019), aclamado drama de Darius Marder sobre um baterista de metal que começa a perder a sua audição, “ficará logo mais sensibilizada” para a necessidade de se proteger. Afirma também que poderia ser interessante se as salas de espectáculos e os festivais começassem a oferecer tampões descartáveis à entrada mais regularmente — o Amplifest fez isso na edição do ano passado, que contou com os notoriamente implacáveis Sunn O))). “Até podias ter de pagar por eles: compras uma bebida e uns tampões. Só a presença disso numa entrada já diz algo: ‘Se isto está aqui, é para me alertar para alguma coisa.’”
Os tampões descartáveis, feitos de esponja e encontráveis numa farmácia, são os mais fáceis de dar às pessoas porque são os mais baratos. Mas são também os que menos favorecem a fruição de um espectáculo. “Limitam grandemente a informação que nos chega. As frequências altas desaparecem da escuta”, sublinha Luís Fernandes, músico e director artístico de duas instituições bracarenses, o gnration e o Theatro Circo. As equipas que lidera disponibilizam tampões descartáveis à mesma, quando se entende que a ocasião obriga a tal, mas não sem uma certa dose de conflito interno. “Enquanto músico e programador, quero que as pessoas tenham saúde e não se exponham a volumes nocivos, mas custa-me um bocado que o façam à custa de sacrificar aquilo que é a obra.”
Luís Fernandes investiu em earplugs feitos à medida do seu canal auditivo. Funcionam à base de filtros que, desempenhando um trabalho de atenuação, não deixam de ser bondosos para com a minúcia do som. “Apesar da perda de informação, são lineares”, explica. “Ouço o mesmo que ouviria sem o protector, mas 15 ou 20 dB mais baixo. Faz muita diferença.” Custaram-lhe 80 euros. “Não é pouco dinheiro, mas, considerando a quantidade de concertos que vejo todos os anos, parece-me um bom negócio.”

A grande vantagem de um protector feito à medida é que, naturalmente, “veda mais o sinal que chega ao ouvido”. Em todo o caso, esta é a opção premium. Os earplugs à base de filtros que podem ser encontrados em lojas de instrumentos ou de artigos para DJ, com moldes genéricos, funcionam da mesma maneira — ou seja, procuram reduzir as frequências nocivas sem deformar o som. E são mais económicos. Os preços variam consoante as marcas: podem custar 15, 20, 30 euros… São mais caros que os tampões descartáveis. Mas Xinobi, produtor de música de dança e DJ, enquadra a questão da seguinte forma: “Bons earplugs custam muito menos do que anos de tratamento auditivo.”
O artista nascido Bruno Cardoso repara que a empresa Loop, uma das mais populares ou até a mais popular fabricante de earplugs neste momento, foi inteligente: “Eles tornaram os tampões apelativos visualmente.” Depois de enfiado o tampão no ouvido, aquilo que resta para um observador externo ver é um pequeno aro que mais parece um acessório de moda. “Cada vez mais vejo pessoal a usá-los, principalmente pessoal mais jovem.”
Um instante pode mudar muita coisa
Nos tempos de juventude de José Salgueiro, o baterista não tinha estas preocupações com a audição. “Não se falava disto há 20, 30 anos. E para mim a audição não podia ter nenhum filtro, eu tinha de estar a ouvir o que estava a produzir da forma mais natural possível. [Usar tampões] poderia ter sido uma questão de educação”, reflecte o músico, que hoje em dia já utiliza protecção auditiva quando está a ensaiar, pelo menos. “Para estudar até é melhor e aconselho. Faz uma diferença grande e continuas a perceber o que tocas.”
Jorge Cruz, antigo líder dos Diabo na Cruz, também não costumava ter os decibéis como preocupação. “Fazíamos muito barulho nos concertos e eu era o primeiro a querer ‘rockar’, a querer fazer a música entrar pelo corpo das pessoas.” Recorda que, a partir de certa altura, o baterista do grupo, João Pinheiro, começou a usar protecção, e a recomendar que os colegas fizessem o mesmo. “Mas era aquela atitude rock: ‘Aguentamos tudo!’” O músico lida com zumbidos nos ouvidos, ou tinnitus, desde que, numa festa de amigos, um menino encostou um tubo ao seu ouvido esquerdo e soltou um fatal berro. O problema de saúde levou ao fim dos Diabo na Cruz e a um afastamento dos palcos que durou anos, e que só recentemente, aos pouquinhos, começou a ser revertido. Jorge Cruz teve de se adaptar. Passou a trabalhar apenas com viola e voz. No soundcheck, o técnico de som tem hoje de “baixar o volume para um quarto daquele que começa por pôr”.
Há outras histórias como a de Jorge Cruz, que numa questão de meros instantes foi sujeito a uma agressão sonora que teve efeitos permanentes. No caso da técnica de som Rute Brissos, não foi um tubo de brincar, mas um gongo. “Quando ainda fazia montagem de palco, um músico não se apercebeu da minha presença e bateu num gongo gigante quando ainda estava atrás dele a pôr o microfone. Afectou a definição da voz no ouvido esquerdo. Se estiver em espaços mais ruidosos, custa-me a perceber as pessoas”, conta.
O espectador de um concerto dificilmente terá de se preocupar com algo como ouvir o som de um gongo gigante a meio metro do mesmo. Mas o palco é, para o melhor e para o pior, o espaço do imprevisível. E Xinobi resume bem o que essa imprevisibilidade pode ter de tenebroso: “Um feedback inesperado, por exemplo, ultrapassa tudo o que se possa imaginar. Podes ficar surdo, ou com a audição muito afectada, só porque algo saiu do esperado. Se estiveres protegido, em princípio safas-te. Mas sempre que estás exposto, estás a arriscar, disso não há dúvidas.”
A otorrinolaringologista Carla Pinto de Moura explica que, como o ouvido humano está “organizado por frequências”, “se algumas células auditivas morrerem, as células laterais podem compensar”, isto é, podem começar a exercer, além da sua própria função, as das células ao lado de frequências contíguas. “A pessoa já não ouve aquela frequência com a mesma discriminação, mas mantém essa sensação frequencial.” Qual é o principal risco disto? “Se houver uma lesão, no início a pessoa não se apercebe, e isso é perigoso, porque continua a expor-se.” É disto que Barry Blesser fala quando argumenta que costumam ser necessários anos de abuso de música alta até os danos se fazerem notar.
Enquanto o vocalista dos Moonspell anda sempre com um par de earplugs no bolso — “defeito de profissional”, diz Fernando Ribeiro —, o dos Mephitic Corpse e Necropsy Odor protege-se com papel higiénico. Matt, que além de vocalista é também guitarrista, está à porta do Barracuda, a recuperar o fôlego após a sua primeira de duas actuações da noite. Eric (bateria) e Michael (baixo e vozes) acompanham-no nos Mephitic Corpse; John (bateria e vozes) e o mesmo Michael tocam com ele nos Necropsy Odor.

Um audiograma, gráfico que é elaborado após fazermos um exame auditivo, mostra, por pontos, o nível de intensidade sonora (em decibéis, ou dB) mais baixo a que conseguimos ouvir cada frequência (em hertz, ou Hz). Imaginemos um ponto que surge na zona correspondente a 4000Hz e 50dB: isso significa que não conseguimos ouvir sons com uma frequência de 4000Hz abaixo de 50 dB. Se num audiograma algum dos pontos estiver abaixo da linha dos 20 dB (ou seja, com um valor maior, dado que o 0 está no topo e o 120 na base), isso é sinal de deficiência auditiva na frequência correspondente.
Na figura abaixo, a curva de cima é o resultado de um exame auditivo de uma pessoa com uma audição saudável, e a de baixo o de uma pessoa com uma audição afectada. A otorrinolaringologista Carla Pinto de Moura conta que, por uma questão anatómica, sons de frequências na ordem dos 4000Hz são os primeiros que o ouvido humano deixa de conseguir ouvir e perceber com a mesma qualidade.

De onde veio a ideia de usar papel higiénico? Terá sido influência dos Dinosaur Jr., reputada banda de indie rock que, como os My Bloody Valentine, é adepta de tocar a volumes avassaladores (desde os primeiros ensaios do grupo que J Mascis produzia um som de guitarra tão cortante que o baixista Lou Barlow e o baterista Murph viravam a casa do avesso, em busca de papel higiénico com o qual pudessem tapar os tímpanos)? Matt ri-se. Os Dinosaur Jr. são a sua banda preferida, mas o jovem americano de 26 anos não sabia dessa história.
“O baterista da minha primeira banda tinha uma mãe otorrino e dizia-me: ‘Se não tiveres tampões, usa papel higiénico, que são a melhor alternativa’”, explicar-nos-á, antes de nos mostrar os dois pedacinhos amarrotados de papel higiénico que traz consigo num bolso das calças. “Eu até sou capaz de comprar tampões, só que depois perco-os, pelo que acabo por utilizar papel higiénico. Mas não acho que proteja totalmente. Quero começar a cuidar melhor de mim”, acrescenta.
“Algumas pessoas gostam daquela sensação de pancada auditiva que sentes ao ver um concerto sem protecção. Eu não consigo identificar-me com isso”, comentará Michael, prodigioso utilizador de tampões (“Acabei de dar um concerto com os meus earplugs e não sinto os ouvidos fatigados neste momento”, diz). “Essa cena da pancada auditiva começa a ser mais merda à medida que envelheces”, acredita Matt, que sente já ter perdido alguma audição. “Sais de um concerto e sentes que tens almofadas a tapar os ouvidos. Depois vais para a cama com um zumbido que costuma desaparecer na manhã seguinte, mas às vezes não desaparece.”
“Eu costumava não querer saber”, prossegue o jovem músico, que, apesar da cara bem-humorada, está a falar de assuntos muito sérios. “Saía do concerto tão empolgado com o que tinha acabado de ver que não queria saber. Agora toco, ou vou a um concerto, e os meus ouvidos começam a apitar, e é difícil ouvir-me a falar”, comenta. “Faz-me sentir terrível, não quero mais fazer isto.”

Ficha técnica: Francisco Lopes (Desenvolvimento web), José Pedro Carvalheiro (Motion Design), Joana Bourgard e Pedro Rios (Coordenação)
Fontes: CUF; APA










