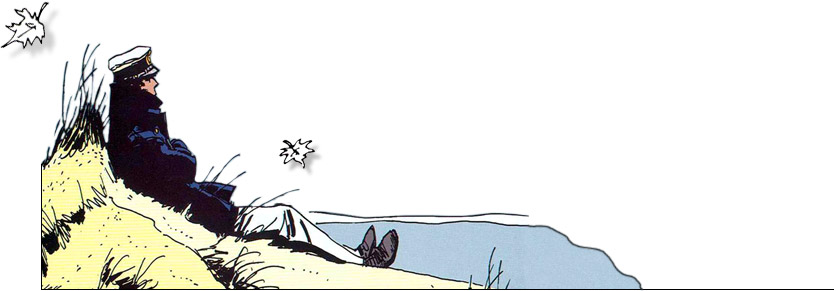|
Viagem ao fim da memória |
|
|
Em Julho de 1967, a revista italiana "Sgt. Kirk" iniciava a publicação de uma banda desenhada destinada a cumprir um destino diferente. Tinha por título "Uma Balada do Mar Salgado" e era assinada por Hugo Pratt. O herói dessa história, Corto Maltese, comemorou há dias 25 anos de existência. O PÚBLICO entrevistou o seu criador, na Suíça, onde habitualmente descansa das muitas peregrinações pelo mundo. "Então, até amanhã, às dez!" Acertada a hora da entrevista, eu continuava inquieto. Era a terceira ou quarta vez que tomava nota das referências que me permitiriam dar com a casa do autor italiano de BD Hugo Pratt, nos arredores de Lausanne, desde que, ainda em Lisboa, o encontro ficara combinado para um sábado de Julho. Os meus receios só se dissiparam quando o motorista do táxi que me transportou deu sinal de saber onde ficava a casa e quem a habitava. "Já lá fui várias vezes, levar e trazer gente", diz. E não pareceu atribuir mais importância ao facto de um jornalista português se dar ao trabalho de percorrer mais de dois mil quilómetros apenas para entrevistar um autor de bandas desenhadas. Algures numa curva da estrada que sobe de Lausanne para os contrafortes da montanha que rodeia o lago Léman, não foi difícil encontrar o estreito caminho alcatroado que dá acesso à vivenda. Mais complicado foi, todavia, reconhecê-la, entre quantas se alinhavam, discretamente, à direita e à esquerda, semidisfarçadas num cenário verdejante e recheado de árvores. Quase no fim, sob uma chuva intensíssima, decidi sair do carro, procurando ler na caixa do correio o nome ambicionado. De súbito, ao fundo de um carreiro empedrado que descia em degraus suaves, abre-se uma porta e surge, de mãos nos bolsos, uma figura imponente. Sólido e de gestos lentos, é ele. Cumprimentamo-nos enquanto me convida a entrar, fixando-me com os olhos azuis penetrantíssimos que os 65 anos de muitas andanças e vivências não deixam de revelar curiosos e vivos. E é por uma manhã chuvosa de Julho, sentados em frente um do outro à mesa da cozinha da sua magnífica vivenda, com as persianas corridas - como se com essa obscuridade pretendêssemos afastar para longe a memória da temperatura amena e do sol que eu deixara dois dias antes em Lisboa e Pratt no Taiti, onde passara as três semanas anteriores -, e beberricando um excelente café feito poucos momentos antes, que tem início uma longa entrevista. Acabaríamos, algumas horas mais tarde, a ver as notícias na televisão italiana, quando o seu cansaço era já evidente e começara a traí-lo, na parte final da conversa, ao entremear no seu francês com sotaque muito acentuado palavras italianas, espanholas e portuguesas. A expressão poliglota de uma existência singular e única, escoada pelos caminhos do mundo. PÚBLICO - Aos 65 anos, você é um autor consagrado e famoso, com uma obra para ser recordada e lida, pelo menos nos próximos mil anos... Como todos os autores, precisou de uma oportunidade para mostrar o que valia. Quem foi a sua "fada madrinha"? Hugo Pratt - Os editores que hoje existem têm uma mentalidade de executivos, de directores. Mas houve um editor italiano instalado na Argentina, chamado Cesare Civita, que compreendeu esse potencial de energia juvenil que eu e outros autores tínhamos e nos contratou. Ali, sofremos o impacto dos autores sul-americanos, eles próprios muito influenciados pelos grandes jornais diários americanos. Civita decidiu fazer uma série de publicações semanais dedicadas em cada dia a um género diferente - "western" à segunda, policial à terça, etc. Em suma, histórias para distrair. E porquê? Porque os operários e trabalhadores que viviam nos arredores tinham que se deslocar diariamente para a grande cidade. Durante uma hora de viagem, o que é que eles podiam ler? A resposta eram essas revistas de banda desenhada que, afinal, eram diárias. O papel era mau, os desenhos feitos a granel por umas três ou quatro dezenas de desenhadores e argumentistas - entre estes, Oesterheld, um homem muito organizado. Existia uma máquina de fabricar sonhos. P. - É nesse período que surge "Sargento Kirk"? R. - Sim, sim. Apareceu em 1953. P. - Há muita gente em Portugal que o conheceu a partir da década de 60, sem saber quem você era. As aventuras do Sargento Kirk apareciam, sem ser assinadas, em publicações populares, como o "Mundo de Aventuras". Ora, o que mais impressionava nessa série era o facto de não ser um "western" clássico, mas uma BD onde, pelo menos por uma vez, os únicos índios bons não eram os índios mortos... R. - Bem, o mérito coube sobretudo a Hector Oesterheld, porque era ele o argumentista das histórias. P. - Mas o desenho era seu... R. - Claro. Mas não estou a interpretar o papel do desenhador modesto ao afirmar que a ideia de uma saga protagonizada por um renegado foi dele. Penso que Hector foi um autor sempre certeiro ao visar o seu alvo. Naquela época, havia uma escola de grandes desenhadores argentinos, e o contributo de autores espanhóis e italianos que chegaram à Argentina na viragem da década de 40 teve como resultado um excelente casamento, uma boa combinação. E nós próprios mudámos, porque passámos a ter outro sentido das responsabilidades, a ter noção dos encargos familiares, etc. A amizade transformou-se também, com a intromissão dos interesses económicos e a pressão das mulheres que queriam saber por que motivo o outro ganhava mais do que o marido. Pequenas coisas que são lamentáveis. P. - Mas o facto de serem estrangeiros em terra alheia facilitou a união entre esse núcleo de autores? R. - Bem, nós éramos imigrantes e não havia grande competição. Esforçávamo-nos para trabalhar juntos e chegámos a organizar sindicatos contra os editores. Eu vinha da Europa, a guerra tinha terminado e eram horas de euforia. Depois, cheguei à Argentina e descobri que havia pessoas com problemas e isso abriu-me as portas para um mundo onde havia muitos socialistas, comunistas e anarquistas, sobretudo espanhóis. Isso levou-me a ver a realidade sob outro prisma. P. - "Sargento Kirk" é, de qualquer modo, um "produto" de tudo isso. Acha que esta série pode ser considerada, a tantos anos de distância, como um Corto Maltese "avant la lettre"? R. - Ah!, bem, sim, há qualquer coisa. A postura libertária do Sargento Kirk foi um legado. Mais tarde, com Corto Maltese, se escolhi o mar como ambiente do personagem foi talvez apenas porque era mais fácil de desenhar (risos). Mas um marinheiro tem uma dimensão mais romântica do que um "cowboy", porque ele vai para lá da linha do horizonte, à procura do que lá se encontra. Na pradaria, há as estrelas e a erva. Mas o mar tem qualquer coisa de diferente e foi assim que surgiu Corto Maltese. P. - Sem mais? R. - Sim. É um bom produto. P. - E está na confluência de todas essas influências de que falou antes... R. - Devo dizer-lhe que estive muito atento aos acontecimentos de Maio de 68 e à revolução juvenil dessa década. Há quem tenha feito um uso interessante dessa experiência e quem a tenha utilizado de forma egoísta e interesseira. Há uma frase numa das aventuras que Corto poderia dizer - não é ele, mas sim Cush quem o diz - que resume esta ideia: as revoluções só são boas enquanto não caem nas mãos dos políticos. É uma citação anarquista que só um anarquista poderia pronunciar, e ninguém está à espera de a ouvir da boca de um integrista como Cush (Khomeiny disse coisas semelhantes e ainda piores, mas foi muito mais tarde). Mas ele é também um revolucionário, um personagem que luta consigo mesmo e não deixa de ser um grande amigo de Corto Maltese... P. - ... Que é um ocidental... R. - Sim, claro. E um mediterrânico... P. - ... Que, simultaneamente, cultiva relações de amizade e tem amigos brasileiros, chineses, mongóis, etc. R. - E poetas... P. - Exacto. Com toda essa abrangência, ele está no ponto de encontro de culturas e formas de pensar que, em princípio, são opostas e antagónicas. Nesse sentido, o seu personagem opera uma síntese de culturas que o transformam num cidadão do mundo... R. - Ele tem uma "élegance de coeur". E também uma certa facilidade para se encontrar facilmente com os outros... P. - Aquilo que, numa tradição maçónica, poderia ser classificado como um espírito de tolerância... R. - Sim. É um tipo compreensivo sem nunca dar lições de moral. Bom, de facto, Corto Maltese começou por ser um bom produto comercial, que se vendia bem. Embora não me caiba a mim dizê-lo, o certo é que Corto se tornou outro personagem que me escapa e eu não compreendo. Mas isso é simplesmente porque sou eu quem o desenho. P.- O que eu afirmei traduz uma leitura pessoal... R. - Claro. Tenho pensado nisso e creio que talvez tenha encontrado uma chave - para mim, a melhor - para resolver esse problema: não há verdadeiramente uma identificação do leitor com Corto Maltese. É outra coisa. O leitor gostaria de ter um amigo como ele e isso é o melhor que pode acontecer a um autor. P. - Mas o herói tem relações com maçons e hermetistas, conhece gente que se reivindica da cabala, do judaísmo, e iniciados na macumba, etc. Em suma, diferentes expressões espirituais de culturas distintas, que Corto tenta unir lançando pontes que apelam ao que há de comum e não ao que as distingue e distancia. R. - É verdade. Tudo isso que disse está certo. Mas deve pensar também que se trata de incursões superficiais... P. - Mas esse é, precisamente, o cerne da questão. Você afirma a dado passo no livro "Le Désir d'Être Inutile" (ler "O direito a traçar o destino", nesta mesma edição) que tudo isso resulta de uma espécie de curiosidade intelectual sua. Mas é apenas isso o que realmente o move? R. - Parte-se sempre de um interesse e de uma curiosidade. A procura torna-se cada vez mais presente porque se fica interessado em saber o que se passa. Começamos a deitar a mão a alguns livros. Um exemplo: se você tropeça num livro sobre Jesus Cristo, Papini, os Evangelhos ou qualquer outro escrito, tudo bem. Mas se em vez de um são dois livros, não terá mais a possibilidade de não ler todos os outros, porque você começa a perceber que o que um diz está em contradição com o que os outros dizem, e por aí fora. A uma certa altura, passou-me pelas mãos um livro de um coronel da aviação americana sobre a escatologia, a defecação. Bah! Li-o por curiosidade, para saber o que é o fenómeno do canibalismo, e apurar que a razão por que se come um inimigo é apenas para o defecar, a última das últimas ofensas. E a certa altura há um capítulo sobre a infância de Jesus Cristo, em que se pode ler que a merda que ele fazia era sagrada, santificada. Mas o que quer isso dizer?!... E depois destas revelações, é inevitável ir à procura dos Evangelhos apócrifos e isto nunca mais termina. Pode imaginar que eu leio um livro sobre a Mongólia e a China. Depois, acabo por aprender montes de coisas sobre Chang-Kai-Chek, Mao Tsé Tung, Lin Piao, Yang-Tsung, etc. A seguir vem a procura de informação sobre a Tríade, a máfia chinesa, que é muito mais poderosa do que a italiana. Depois, conheci uma sobrinha de Chang-Kai-Chek, que me contou imensas coisas sobre o tio... Em suma, procuro dar ao leitor uma atmosfera de sugestão. O resto é com ele, se quer explorar o seu próprio caminho. É claro que os personagens podem dizer coisas impensáveis - pus uma frase do economista americano Kenneth Galbraith na boca de Raspoutine, o anarquista louco russo amigo de Corto. É uma ideia muito moderna, explicitada num contexto muito preciso, o de Samarcanda há muitas décadas atrás. Quando fala aos soldados turcos e lhes explica o que é o prazer e o poder, Raspoutine diz que o máximo de prazer é ver tipos submetidos ao poder estarem contentes com a sua condição. É um conceito filosófico moderno! E é Raspoutine quem o afirma! É assim a banda desenhada: não sou eu quem afirmo o que quer que seja, mas os personagens. O importante é fazer uso dos personagens para lhes incrustar qualquer coisa de positivo. P. - Fala-se muito do futuro de Corto. Deixou marcas em quase todos os cantos do mundo e fala-se que talvez desapareça na guerra civil de Espanha... R. - Sim. Talvez desapareça em Espanha. P. - Talvez?... R. - Sabe, há muitas ideias que nem sequer sei se virei algum dia a concretizar. Aos 65 anos já não se podem fazer grandes nem longos programas de trabalho. De momento, tudo corre bem e pensei que Corto Maltese também deveria ficar velho. Mesmo se esse envelhecimento se registasse a um ritmo mais lento do que o do seu autor. O problema é que há um público que tem medo que Corto termine. P. - E você sente-se prisioneiro dessa lógica? R. - Evidentemente que sim, um pouco. Mas há outras histórias e ciclos que fiz também com êxito - não tanto como Corto Maltese, é claro, embora isso dependa do ritmo a que saem novos livros, o que fará com que os resultados comecem a tornar-se igualmente muito interessantes. Mas Corto Maltese é o príncipe das minhas bandas desenhadas e fazê-lo envelhecer coloca-me problemas. Aliás, é por isso que eu o faço beber o elixir da longa vida (risos), de modo a que possa permanecer jovem no sono e nos sonhos. P. - Para poder viver outras aventuras? R. - A história de Mú, que já acabei no ano passado, vai sair em breve. Corto Maltese parte à procura do continente perdido, a Atlântida, e através desta vai a Mú, que fica do outro lado do Pacífico. P. - Ainda e sempre essa preocupação da mensagem que o leitor utilizará como souber, puder ou quiser?... R. - Mensagens esotéricas, sim. Quando você me pergunta pelo esoterismo, pela cabala e pela magia em Corto Maltese, eu respondo: porque não? Eu creio que certas coisas só se encontram porque se quer encontrá-las. Há um mundo muito estranho, metafísico, que me permite ir e virar a página. E quando isso acontecer, serei outra pessoa, que sonhou ter sido um dia um desenhador veneziano, que viveu com personagens de banda desenhada e talvez seja um funcionário na câmara de Salisbúria, chamado Müller. Como vê, há sempre a possibilidade de sonhar (sorriso)... P.- Você acredita de facto no poder da imaginação e da fantasia? R . - Claro. Fantasia não tem em francês o mesmo significado do italiano ou do português. Mas imaginação, sim! Entramos num mundo de fantasmas, de fábulas e de sonhos, um mundo onírico. As crianças podem entrar nele com grande facilidade e voltar a sair dele. Mas um adulto, quando entra num desses mundos, fica lá. É evidente que as chaves de que dispõe para lá entrar e viver são muitas. E, por isso, nunca se pára de sonhar P. - Olhando para o passado, para todas as obras que criou até agora, que relação mantém com elas? Há alguma que mereça uma predilecção particular? R. - Entre todas as histórias que fiz, há umas mais conseguidas do que outras. É óbvio. P. - Mas há alguma que ocupe um lugar especial? R. - Há sempre um dimensão de paternidade que eu aceito e assumo para mim. Basta ver o caso de "Les Helvétiques", muito criticada no princípio, mas que é agora muito bem aceite. Porque se passa sempre o mesmo: quando faço uma história de natureza um pouco mais particular, a crítica é negativa, com recurso a pesquisas muito intelectuais e mitómanas. Será uma boa história três ou quatro anos mais tarde. No entanto, devo tomar cuidado com um aspecto importante da questão. Não posso dar-me ao luxo de estar a dar presentes a mim mesmo ou a um pequeno grupo de amigos mais íntimos. Os outros, a maioria, acabam por se cansar. Assim, é necessário regressar a temas de pura aventura. Foi por essa razão que inventei a juventude de Corto, porque há sempre a possibilidade de voltar atrás, e regressar às suas recordações passadas, do tempo em que esteve em Bornéu ou na Patagónia. Isso dá-me a oportunidade de revisitar lugares romanticamente aventurosos. É claro que depois da guerra civil de Espanha será difícil pensar em grandes aventuras num mundo socialista. É possível pensar nisso num mundo povoado de comunistas ou de anarquistas, mas não num mundo socializante. P. - O que quer dizer com isso? R. - Os socialistas são sempre reformistas, passam a vida sentados em volta de uma mesa a falar de reformas, da divisão de poderes e de coisas como essas. É uma catástrofe. Não se pode casar o mundo operário e a aventura (risos). É como pensar numa ligação entre uma família católica e o catolicismo e a aventura. Não resulta, porque o aventureiro é sempre alguém pronto a dar cabo de tudo. P. - O que está a querer dizer é que o materialismo e o dogmatismo matam a imaginação e o sonho? R. - Destroem a invenção, a imaginação e a poesia. Isso era difícil de admitir em 1968, porque toda a gente tinha de estar comprometida politicamente... P. - Tudo isto a propósito da sua criação preferida.... R. - Ah, é verdade. Talvez a primeira aventura de Corto Maltese, "Uma Balada do Mar Salgado", a história que me deu a grande possibilidade de regressar a um personagem que nascia pela primeira vez. E isso porque não era ele o verdadeiro personagem da história, mas o mar, as ilhas, os atóis, o ambiente. E não o digo apenas num sentido metafórico. E sobretudo havia a heroína, aquela rapariga chamada Pandora... P. - A presença feminina nas histórias de Corto Maltese é outra grande história. E sobretudo porque são sempre mulheres muito belas e inteligentes... R. - Ah, sim! Um mundo sem mulheres seria uma coisa terrível! De facto, conheci alguém parecido com essas personagens, que depois foram sublimadas, evidentemente. P. - Mas há uma constante arquetípica em todas elas. Não será isso que as torna tão perturbadoras e inesquecíveis? R. - Sim, sim. Mas sabe que há muitas mulheres que se reconhecem nessas personagens e gostariam de estar no seu lugar para terem oportunidade de conhecer Corto Maltese. Conheço também algumas mulheres espantosas que se identificam com ele. Mas só as mulheres, não os homens! E eram mulheres muito femininas. É bizarro! (risos). P. - O certo, porém, é que, como afirmou, Corto não se revela desde o princípio como o protagonista da história. R. - A minha preferência pela "Balada" tem a ver igualmente com o facto de me ter permitido dar expressão a esse personagem emblemático que é Corto Maltese. E um tipo como Raspoutine, que revela toda a sua força no momento em que pergunta a Corto, no submarino, o que é que ele pensa de si! E quando Corto quer saber a razão de ser da pergunta e Raspoutine lhe confessa que gostaria de ter amigos, que é uma coisa que ele não consegue ter, aí, Raspoutine tornou-se a chave da expressão de uma certa moral e permite compreender os termos exactos da ternura que existe entre os dois. Além disso, quando não sei muito bem que saída encontrar para as situações em que Corto se mete, lá está Raspoutine para me ajudar a resolver as situações. P. - E Cush? R. - Hum!, esse é um personagem que vemos muito pouco, e sobretudo na série "Os Escorpiões do Deserto". É outro exemplo de uma intuição que me levou a fazer com que os personagens das diferentes bandas desenhadas se conhecessem. P. - E serem portadores de fragmentos de uma memória que leva sempre a Corto Maltese... R. - Sim, sim. Referem-se a factos ocorridos com Corto que deixam o leitor perplexo, porque falam de uma história que ele não conhece (risos). E a perturbação ainda é maior quando se pensa que é um personagem totalmente inventado, mas que, por exemplo, falou uma vez ao telefone com Estaline... P. - Você pertence a uma geração que trouxe a banda desenhada para o universo dos adultos. Sente essa responsabilidade? R - Continua a existir uma visão da BD muito primitiva e ingénua, que tende a vê-la como uma coisa de e para miúdos. Isso é verdade e ainda bem que é, de facto, para os miúdos. Mas há professores que falam da BD e eu interrogo-me se não o fazem apenas para melhor vender os seus próprios livros. Acho que esse interesse deveria traduzir, antes de mais, um desejo de ler e não apenas uma preocupação de natureza didáctica, confinada aos muros da escola. O resultado é haver hoje uma geração de crianças e adolescentes que se chateiam por serem obrigados a conhecer a História de França - ou de Portugal - através da banda desenhada. P. - Na sua opinião, como se pode sair desse círculo aparentemente vicioso? R. - Tenho afirmado, e insisto nisso, que deveriam ser os jornais diários a revelarem a coragem de abrir espaços ao seu próprio público com bandas desenhadas adequadas às características dos respectivos leitores. Mas não há maneira de se conseguir desbloquear essa situação. P. - A grande imprensa europeia dedica, apesar de tudo, alguma atenção ao que se passa no mundo da banda desenhada... R. - Claro que sim, mas isso não me impede de pensar e de dizer que se deveria dar espaço aos jovens artistas, desenhadores e argumentistas, que conhecem a realidade do seu próprio ambiente social, da sua comunidade. É inútil pegar numa banda desenhada francesa ou americana que reflectem uma mentalidade e uma educação com forte influência cultural desses países. Os jornais têm que pensar nos seus próprios leitores, publicando histórias de um autor do seu próprio meio, e não de alguém que vem da Finlândia ou de outro país qualquer, e que não domina as "nuances" do pensamento e da língua. O que falta aos jovens artistas não são boas ideias, mas espaço para se exprimirem! P. - Mas que espaço fica para os autores que pela natureza e características da sua obra já derrubaram as barreiras nacionais? Qual é, afinal, o seu lugar? R. - É verdade que existem autores que têm uma dimensão internacional, que construíram os seus próprios personagens, uns mais conseguidos do que outros. Tornam-se uma espécie de bitola, de símbolo internacional. Corto Maltese está nessa categoria porque tem uma aura e uma postura pró-romântica e é avaliado de acordo com as suas referências culturais... É um personagem que lê! E eu, como desenhador, porque construí o meu próprio estilo, um pouco expressionista, caricatural, deliberadamente despojado de coisas que podem provocar uma dispersão na história, porque me interessam muito os diálogos. P. - Escreve-se hoje muito, como sabe, sobre o fenómeno da BD, e o "seu" Corto é um dos mais visados. Como vê esse protagonismo? R. - A pior coisa que pode acontecer é ser impreciso, fazer as coisas sem seriedade. Há muita gente a escrever sobre o tema, mas enganam-se com frequência no nome dos autores, dizem-se coisas muitos provisórias, sem muita envergadura. É isso que faz mal à banda desenhada. P. - E julga que essas incursões relevam de uma atitude diletante face a algo que se tornou uma moda, por exemplo? R. - Para muitos dos críticos, sim. Pegam num texto qualquer que foi escrito para outra obra, reajustam-no um pouco e fazem o seu artigo, com todas as imprecisões que você conhece tão bem como eu. E isso acontece sobretudo no Verão, quando toda a gente vai para a praia, os políticos não são notícia e não há nada de mais interessante ou preocupante de que falar. Então, decidem falar de BD ou publicar histórias apenas durante esses meses. P. - Mas no que lhe diz respeito, a crítica não tem sido madrasta... R. - Claro que não! A crítica foi sempre generosa comigo. Eu referia-me apenas às imprecisões de certo tipo de gente que está predisposta a falar sobre este tema e deveria ser mais rigorosa. Ou, no mínimo, efectuar o mesmo percurso - trabalho, esforço e fadiga - efectuado pelo artista. Não se pode dizer que esta obra é uma estupidez; tem que se explicar a razão por que se diz isso. Acusam muito os desenhadores de serem incapazes de escrever ou de falar. Em parte, isso é verdade, pois há muitos que são tímidos... P. - ... E o desenho é, precisamente, o seu meio de exprimir e comunicar o que não conseguem por outros meios... R. - É evidente. Pessoalmente, nunca penso que deva fazer uma exibição da minha cultura. O que me interessa é sugerir a um personagem imaginário que ele teve certas influências literárias ou filosóficas, sem ter de fazer permanentemente um exame de consciência. P. - Mas a construção de um personagem não é feita apenas com a montagem dessas referências. Há ou não há algo mais? R. - Compreendo onde quer chegar e concordo consigo. Tive bons precursores muito capazes. Trabalhei muito com Oesterheld, li com muita atenção Milton Caniff, que me parece ainda hoje um grande escritor e desenhador. E há toda a escola americana e uma presença europeia atrás de mim que é formidável e muito poderosa. A outro nível, há Cervantes, Shakespeare, aquele grande poeta português da mesma época... P. - Luís de Camões?... R. - Sim! Camões, de quem pouca gente fala. E também Pessoa, um poeta que me interessa muito, pela simples razão de que um dia me passou pelas mãos um poema dele que me fez pensar. Sobretudo, quando escreve sobre a dualidade da vida, o mundo real e o mundo da imaginação e do sonho. Tal como o escritor espanhol Calderon de la Barca. Conheci muitos autores deste modo, não propriamente com grande profundidade, mas que li e nos quais encontrei inspiração ou apenas uma frase que fez abrir os mecanismos que me permitem contar uma pequena história. P. - Continua a acompanhar a criação de banda desenhada que se faz actualmente? R. - A questão é boa. Antes de ler uma história, estou condicionado pela apreciação do seu grafismo. Se o desenho me agrada... Mas isso revela também alguma deformação profissional, porque não posso ignorar que sou um desenhador. P. - Para outros autores, o mais importante é a história. R. - Mas isso é verdade! No meu caso, sinto que caio nessa armadilha, porque sou desenhador. E se o desenho me agrada, a minha curiosidade vai mais longe, para conhecer as soluções encontradas pelo autor em questão. É o começo de um processo de conhecimento, porque, antes de ler, nós olhamos e vemos. Isso é muito importante para a minha formação como desenhador. Depois, passo a ler os diálogos, que é o que me dá o prazer de encontrar uma frase que, por exemplo, me faz sorrir, ou revela uma fina ironia. Os jogos psicológicos dos personagens tornam-se importantes e começamos a dar-lhes uma fisionomia. P. - Mas isso é o que se passa consigo, no fim de contas?... R. - Sim, sim. É o meu próprio processo criativo. |
|