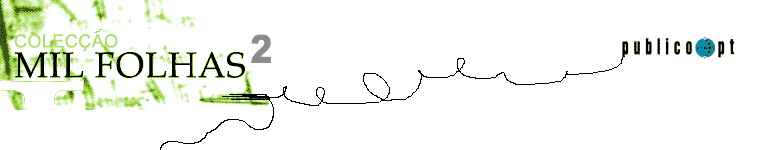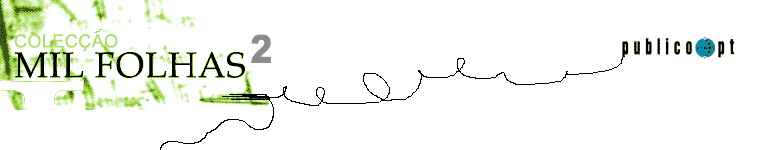O que o tempo faz de nós
O drama do desaparecimento de uma criança
de três anos é o ponto de partida para um notável
romance de Ian McEwan, “A Criança no Tempo”.
Um livro sobre a perda e de como o tempo actua em cada um
de nós para a ultrapassarmos. Pensar o homem como resultado
da memória, sem poder voltar atrás.
Por Rita Pimenta
Quem não teve já vontade de regressar
a um ponto qualquer no passado e alterar um comportamento,
uma observação, um gesto e assim evitar (supõe-se)
o que aconteceu a seguir. Aquele segundo impensado em que
se fecha a porta com a chave do outro lado ou o momento em
que se altera o percurso de sempre para dar de caras com um
imbecil a que não se pode fugir.
Stephen Lewis, o protagonista de “A
Criança no Tempo”, martirizou-se neste jogo de
imaginar como seria se não tivesse sido. Desgastou-se
em pensamentos sobre o motivo por que resistira à sedução
matinal de Julie e não voltara para debaixo dos lençóis.
Não, não ficaria. Decidira ir com a filha Kate
ao supermercado e por isso deixou a mulher na cama, sozinha.
No regresso, também ele vinha sozinho. Perdera Kate,
de três anos, e não podia voltar atrás
no tempo.
É assim que se entra nesta obra de
Ian McEwan. E não apetece sair. A relação
de ambos não resiste à perda. Stephen continua
as discussões inúteis sobre pedagogia no subcomité
de Educação a que pertence e não consegue
ter ideias para as suas obras literárias. Por ironia
– ou mordacidade de McEwan –, o pai da miúda
escreve livros infantis. Julie, que até então
tocara violino num quarteto de cordas famoso, abandona a música
e Stephen.
A partir daqui, o autor leva-nos a seguir
o rumo do homem e raramente nos dá notícias
de Julie, excepto quando aquele a visita no campo, passados
mais de dois anos sobre o desaparecimento de Kate. Fazem amor.
Pelo caminho, o protagonista tem uma visão
(alucinação, chamar-lhe-á) dos seus pais
ainda jovens num “pub”. Decidiam o destino a dar
à gravidez da mãe. O que fazer com ele, portanto.
Aquela imagem persegue-o e tenta confirmá-la junto
dos pais, dando-se conta de que existiam para além
dele: “Só quando somos adultos, porventura quando
nós próprios temos filhos, compreendemos inteiramente
que os nossos pais tiveram uma existência cheia e complexa
antes de nós nascermos”. Há-de voltar
a passar por aquele “pub”, mas aí estará
prestes a reconciliar-se com o mundo. E com Julie.
A crueza de McEwan acompanha toda a narrativa,
mas é ímpar nas passagens relativas à
educação das crianças: “Durante
três séculos, gerações de peritos,
sacerdotes, moralistas, cientistas sociais, médicos
– na maioria homens – tinham debitado instruções
e factos em constante mutação para benefício
das mães (…) Lera afirmações solenes
sobre a necessidade de ligar os membros de um bebé
recém-nascido a uma tábua, para impedir o movimento
e ferimentos auto-infligidos; os perigos da amamentação
natural ou, noutro autor, a sua necessidade física
e superioridade moral; como o afecto ou o estímulo
corrompem uma criança pequena”.
O autor divaga nestas matérias e remata
com os exemplos mais absurdos: “O trauma infligido à
criança que vê os pais nus, a perturbação
crónica alimentada por estranhas suspeitas se ela só
os vê sempre vestidos; como dar vantagem ao nosso bebé
de nove meses ensinando-lhe matemática”.
Ian McEwan é assim. Não persegue
objectivos morais, reflecte tão-só sobre o mundo
que habitamos e partilhamos. E não se consegue parar
de ler.
O prémio de ficção atribuído
a “A Criança no Tempo” (Whitbread 1987)
foi merecido. Como os que se lhe seguiram por obras mais recentes:
“Amesterdão” (Booker Prize 1998) e “Expiação”
(National Book Critics Circle 2002).
O autor, que sempre admirou Kafka e se cansou
de Freud, oferece-nos um final comovente e apaziguador sobre
o que de mais belo a existência humana ainda pode ter.
|